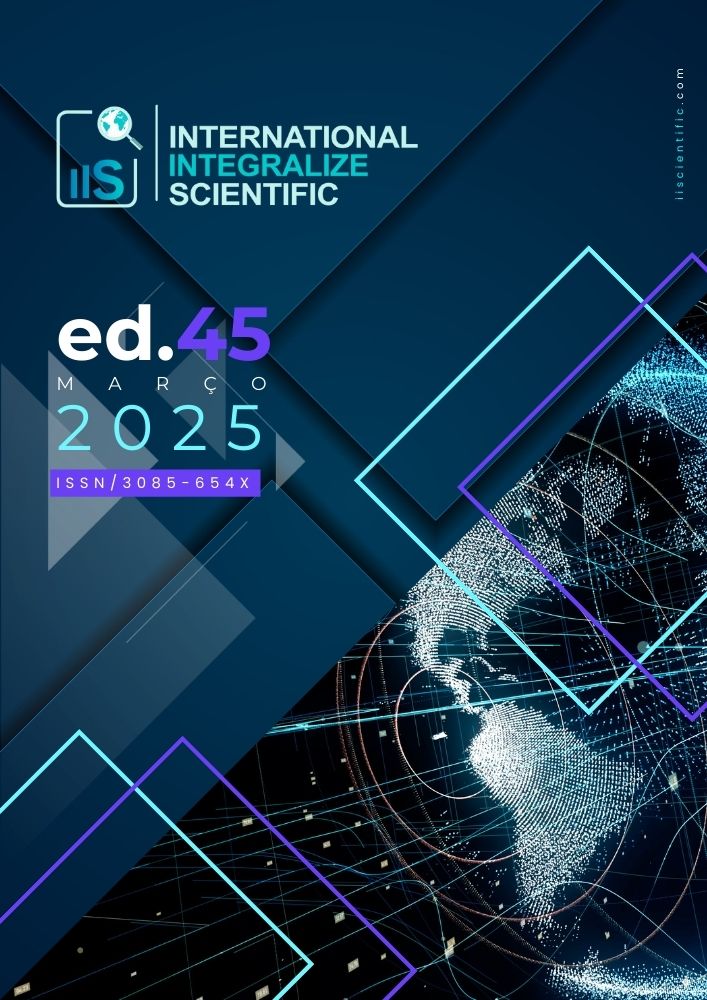Cultura e sustentabilidade: o resgate do saber tradicional na educação ambiental
CULTURE AND SUSTAINABILITY: RESCUING TRADITIONAL KNOWLEDGE IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
CULTURA Y SOSTENIBILIDAD: EL RESCATE DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Autor
Prof. Dr. Rodollf Augusto Regetz Herold Altisonante Borba Assumpção
Resumo
Summary
Resumen
INTRODUÇÃO
O saber tradicional, transmitido de geração em geração, carrega consigo práticas e conhecimentos sustentáveis que foram desenvolvidos pelas comunidades ao longo da história. Essas práticas, muitas vezes adaptadas ao contexto local, refletem uma relação profunda entre o ser humano e o meio ambiente, respeitando os ciclos naturais e a biodiversidade. No cenário contemporâneo, marcado por intensos desafios ambientais, há um crescente interesse em resgatar esses saberes, reconhecendo seu valor para a construção de modelos educativos que busquem não apenas a preservação do ambiente, mas também a promoção de um modo de vida equilibrado e sustentável. A educação ambiental, nesse contexto, surge como uma importante via para a incorporação desses saberes na formação de uma consciência ecológica efetiva (Baptista; Guimarães; Pereira, 2020; De Souza; Miranda; Romagnoli, 2023).
A proposta deste trabalho visa analisar como os saberes tradicionais podem ser inseridos de forma prática e teórica na educação ambiental, estabelecendo um vínculo entre as práticas culturais locais e as necessidades contemporâneas de preservação e sustentabilidade. O problema de pesquisa se refere à questão: como as práticas e conhecimentos tradicionais, desenvolvidos pelas comunidades ao longo do tempo, podem ser resgatados e utilizados para enriquecer a educação ambiental e promover a sustentabilidade? A partir disso, pretende-se verificar a eficácia de tais práticas na implementação de soluções educativas que realmente tragam resultados tangíveis na conscientização ambiental e preservação dos recursos naturais (Batista; Milioli; Citadini-Zanette, 2020; Da Silva, 2022).
As hipóteses levantadas para este estudo consideram que o resgate e a integração dos saberes tradicionais podem resultar em um modelo educacional que, além de valorizar as culturas locais, também contribui para a efetiva adoção de práticas ambientais sustentáveis. A primeira hipótese é a de que as comunidades que utilizam esses saberes possuem um entendimento profundo da sustentabilidade, refletido em suas práticas cotidianas. A segunda hipótese é de que, ao integrar esses saberes à educação ambiental formal, pode-se alcançar um ensino inclusivo e contextualizado, que dialogue com as realidades locais. Por fim, a terceira hipótese sugere que o resgate desses saberes proporciona soluções criativas e adequadas para a preservação ambiental, respeitando a diversidade cultural e os ecossistemas locais (Lopes, 2020; Guimarães, 2020).
A relevância deste trabalho está diretamente ligada ao contexto atual de degradação ambiental e mudanças climáticas, questões que exigem ações urgentes e efetivas. Considerando esse cenário, incorporar saberes tradicionais na educação ambiental pode representar uma abordagem inovadora para lidar com os desafios ambientais. Esse resgate, além de valorizar a sabedoria ancestral das comunidades, contribui para a formação de uma nova geração de cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios ambientais, adotando práticas sustentáveis no dia a dia. Nesse sentido, o trabalho busca destacar a importância dessa integração para a construção de uma sociedade equilibrada e sustentável (De Quadro; Tavares; Cardoso, 2022; Franck; Fé; Scariot, 2024).
O objetivo geral deste estudo é discutir como o resgate do saber tradicional pode ser incorporado à educação ambiental, destacando a importância dessas práticas para a promoção de um modelo de ensino sustentável. Para isso, serão abordados três objetivos específicos: (1) caracterizar as práticas tradicionais das comunidades locais que contribuem para a preservação ambiental; (2) exemplificar como a integração desses saberes pode ser aplicada na educação ambiental; e (3) classificar os benefícios dessa integração no processo de conscientização e adoção de práticas ambientais responsáveis.
METODOLOGIA
Este estudo emprega uma metodologia qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, fundamentada em uma revisão bibliográfica. O objetivo é analisar como o resgate do saber tradicional pode ser incorporado à educação ambiental, destacando a importância dessas práticas para a promoção de um modelo de ensino sustentável. A revisão buscará caracterizar as práticas tradicionais das comunidades locais que contribuem para a preservação ambiental, exemplificar como a integração desses saberes pode ser aplicada na educação ambiental e classificar os benefícios dessa integração no processo de conscientização e adoção de práticas ambientais responsáveis (Sampaio, 2022).
Para garantir a qualidade da seleção das fontes, foram adotados critérios. Inicialmente, foram definidos termos-chave relacionados ao tema, tais como “saberes tradicionais”, “educação ambiental”, “práticas sustentáveis”, “preservação ambiental” e “cultura local”. A seleção das fontes foi orientada por critérios de inclusão que priorizaram artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, de periódicos de renome, disponíveis em plataformas de acesso gratuito ou institucional, bem como livros acadêmicos e dissertações de programas de pós-graduação reconhecidos. Artigos duplicados, revisões narrativas e fontes que não correspondiam diretamente à questão de pesquisa foram excluídos. (Sampaio, 2022).
As buscas foram realizadas em bases de dados acadêmicas, incluindo os periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Scholar, além de outras fontes relevantes como o Portal de Periódicos da CAPES. As palavras-chave previamente definidas orientaram a identificação de estudos que abordassem o tema. Dessa forma, obteve-se uma amostra representativa e atualizada dos principais estudos sobre o tema, garantindo a relevância e a confiabilidade dos dados analisados. (Sampaio, 2022).
O processo de análise envolveu a leitura crítica das publicações selecionadas, com foco na identificação dos pontos principais relacionados à integração dos saberes tradicionais na educação ambiental. Foi realizada uma análise descritiva e qualitativa dos conteúdos, com o intuito de categorizar as diferentes abordagens pedagógicas, os desafios enfrentados na implementação de práticas tradicionais na educação ambiental e as contribuições dessas práticas para a sustentabilidade. Assim, esta revisão busca fornecer uma compreensão detalhada e atualizada sobre o papel do saber tradicional na educação ambiental, destacando a importância de sua incorporação para a formação de uma consciência ecológica e sustentável entre as gerações futuras (Sampaio, 2022).
SABERES TRADICIONAIS E SUSTENTABILIDADE
Os saberes tradicionais são peças fundamentais na sustentabilidade ambiental, sendo uma fonte de conhecimento transmitida ao longo de gerações. Esses saberes englobam práticas como a rotação de culturas, a conservação da biodiversidade e o manejo sustentável dos recursos naturais. Em muitas comunidades, as práticas tradicionais são parte do cotidiano, conectando os indivíduos à terra e reforçando a importância de preservar os ecossistemas. Essa relação entre o conhecimento ancestral e a sustentabilidade é um modelo eficiente de integração entre cultura e meio ambiente, promovendo a conservação da biodiversidade e a resiliência ambiental (Baptista; Milioli; Citadini-Zanette, 2020; Lopes, 2020).
As práticas tradicionais de manejo sustentável demonstram como a relação equilibrada com a natureza pode ser mantida. A agricultura indígena e quilombola, por exemplo, destaca-se pelo uso respeitoso do solo e dos recursos hídricos, garantindo a renovação desses sistemas. A utilização de métodos de plantio que respeitam os ciclos naturais permite a continuidade dos recursos para gerações futuras, enquanto promove a resiliência das comunidades. Essas práticas são fundamentadas em uma percepção holística dos ecossistemas, o que contribui para a manutenção de sistemas ecológicos saudáveis (Batista et al., 2020; Guimarães, 2020).
Além disso, o conhecimento medicinal tradicional é uma vertente importante dos saberes tradicionais. Por meio de uma profunda compreensão das propriedades das plantas, muitas comunidades desenvolvem remédios naturais eficientes que complementam as práticas de saúde contemporâneas. A utilização consciente dos recursos medicinais demonstra a importância de valorizar essas práticas, pois reforçam a necessidade de preservar as espécies vegetais e os ecossistemas nos quais estão inseridas (Gomes, 2022; Guimarães, 2020).
A integração desses saberes à educação ambiental é uma forma de valorizar a diversidade cultural e promover práticas sustentáveis em escala ampla. Ao incorporar o conhecimento tradicional nos currículos escolares, as instituições podem ampliar a compreensão dos estudantes sobre os desafios ambientais e as soluções práticas disponíveis. Essa abordagem educacional não apenas fortalece as comunidades locais, mas também cria oportunidades para a troca de saberes entre diferentes culturas, promovendo a sustentabilidade global (Baptista; Guimarães; Pereira, 2020; De Quadros; Tavares; Cardoso, 2022).
A valorização dos saberes tradicionais em contextos acadêmicos e governamentais tem o potencial de mitigar os impactos ambientais causados pela degradação dos recursos naturais. Essa integração possibilita a criação de políticas públicas que respeitam as práticas locais, promovendo um desenvolvimento equilibrado e justo. Ao reconhecer a importância dessas práticas, é possível construir estratégias que beneficiem tanto o meio ambiente quanto as populações que dependem dele para sua subsistência (Da Silva, 2022; Franck; Fé; Scariot, 2024).
A conservação da biodiversidade está diretamente ligada à aplicação dos saberes tradicionais, pois muitas práticas dependem da preservação dos ciclos naturais. A medicina tradicional é um exemplo claro dessa relação, uma vez que utiliza plantas de forma sustentável, garantindo o equilíbrio dos recursos e a regeneração das espécies. Assim, essas práticas são muito importantes na construção de um futuro sustentável e equilibrado (Batista; Milioli; Citadini-Zanette, 2020; Gomes, 2022).
A relação entre os saberes tradicionais e a sustentabilidade transcende os aspectos ambientais, contemplando as dimensões sociais e culturais. As práticas tradicionais promovem o respeito às identidades locais e incentivam a colaboração comunitária para superar desafios ambientais. Ao integrar esses conhecimentos à educação ambiental, é possível fortalecer os vínculos entre as comunidades e suas práticas, criando soluções coletivas que beneficiam o meio ambiente e a sociedade como um todo (Macorreia, 2021; De Souza; Miranda; Romagnoli, 2023).
Outro aspecto relevante dos saberes tradicionais é sua contribuição para a gestão hídrica. Técnicas ancestrais de aproveitamento da água e irrigação sustentável são exemplos de como essas práticas podem ser aplicadas em contextos de escassez. Essas soluções, baseadas em um entendimento profundo dos ciclos hidrológicos, oferecem caminhos inovadores para lidar com os desafios globais da gestão da água e da preservação dos recursos hídricos (Lopes, 2020; Batista et al., 2020).
A integração dos saberes tradicionais às políticas ambientais é um passo crucial para fortalecer a resiliência das comunidades diante das mudanças climáticas. Essas práticas locais podem servir de inspiração para a criação de estratégias globais que promovam a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Ao incorporar os saberes tradicionais na formulação de políticas, é possível criar soluções inclusivas e eficientes para os desafios ambientais (De Quadros; Tavares; Cardoso, 2022; Da Silva, 2022).
Além de preservar a biodiversidade, os saberes tradicionais têm o potencial de transformar a educação ambiental em uma experiência culturalmente enriquecedora. Ao valorizar o conhecimento local, os educadores podem criar experiências de aprendizado que respeitam a diversidade e promovem um entendimento profundo das interações entre os seres humanos e o ambiente natural. Esse modelo educativo contribui para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade (Baptista; Guimarães; Pereira, 2020; Macorreia, 2021).
Dessa forma, a valorização e a disseminação dos saberes tradicionais são estratégias que promovem não apenas a sustentabilidade, mas também o respeito e a valorização das culturas locais. Essas práticas têm o potencial de transformar a relação entre o homem e a natureza, criando um futuro em que o equilíbrio ambiental e a justiça social caminham lado a lado. Integrar esses saberes à educação e às políticas públicas é essencial para construir um mundo sustentável e harmonioso (Guimarães, 2020; De Souza; Miranda; Romagnoli, 2023).
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O RESGATE DO SABER TRADICIONAL
A valorização dos saberes tradicionais no contexto educacional é um componente essencial para a promoção de uma educação ambiental que respeite e integre a diversidade cultural. Esses conhecimentos, frequentemente associados a práticas sustentáveis de comunidades indígenas, quilombolas e rurais, fornecem perspectivas relevantes sobre a interação harmônica entre seres humanos e meio ambiente. Integrar essas práticas ao currículo escolar permite uma formação rica e conectada às realidades locais, reforçando a consciência ambiental de estudantes e promovendo o respeito à pluralidade cultural (Baptista; Guimarães; Pereira, 2020). Essa abordagem também contribui para que os alunos reconheçam o valor das práticas ancestrais na busca por soluções para os desafios ambientais contemporâneos (Batista; Milioli; Citadini-Zanette, 2020).
O uso de metodologias participativas é uma estratégia importante para integrar saberes tradicionais ao ensino. Oficinas e projetos de campo que envolvem as comunidades locais possibilitam uma vivência prática e enriquecedora, onde estudantes podem observar e aprender diretamente com os detentores desse conhecimento. Essas atividades promovem não apenas o aprendizado acadêmico, mas também a formação ética e cultural, sensibilizando os alunos para a importância de práticas sustentáveis (De Souza; Miranda; Romagnoli, 2023). Além disso, metodologias que estimulam o diálogo intercultural são essenciais para fortalecer o vínculo entre as comunidades tradicionais e o ambiente escolar, garantindo um aprendizado significativo e contextualizado (Macorreia, 2021).
Materiais didáticos que incorporam os saberes tradicionais são indispensáveis no processo educacional, principalmente ao incluir conteúdos que abordem práticas como manejo sustentável, medicina popular e conservação da biodiversidade, esses recursos enriquecem a formação dos alunos e tornam o ensino inclusivo e acessível. Mapas, ilustrações e vídeos sobre a relação das comunidades com o ambiente ajudam a desenvolver uma percepção crítica dos estudantes sobre a sustentabilidade e sua importância para a preservação dos recursos naturais. Essa abordagem amplia o alcance do ensino e permite que os alunos reconheçam a relevância dos saberes ancestrais em contextos contemporâneos (De Quadros; Tavares; Cardoso, 2022).
Exemplos práticos dessa integração podem ser observados em projetos educacionais implementados em comunidades indígenas e quilombolas. Tais iniciativas têm como objetivo principal a preservação dos conhecimentos tradicionais e o fortalecimento das identidades culturais, ao mesmo tempo em que promovem uma maior conscientização ambiental. Programas que destacam práticas de manejo sustentável, como a rotação de culturas e o uso racional dos recursos hídricos, demonstram como é possível aliar a educação ambiental à valorização dos saberes locais (Da Silva, 2022). Essas ações também contribuem para o desenvolvimento de um currículo escolar que respeita e celebra a diversidade cultural (Macorreia, 2021).
A formação continuada de educadores é indispensável para o sucesso das iniciativas que integram saberes tradicionais à educação ambiental. Cursos e capacitações que explorem o uso de práticas pedagógicas baseadas na interculturalidade são fundamentais para preparar professores a lidar com conteúdos culturais de forma respeitosa e eficiente. Essa formação ajuda a criar ambientes de aprendizagem que promovem o respeito pela diversidade e possibilitam a troca de conhecimentos entre diferentes culturas, fortalecendo a educação ambiental como uma ferramenta de inclusão e transformação social (Guimarães, 2020).
O envolvimento das comunidades locais no processo educacional é outro aspecto crucial para a efetividade dessas iniciativas. A participação de líderes comunitários e famílias em atividades pedagógicas cria um vínculo estreito entre escola e comunidade, reforçando a relevância do ensino para a realidade local. Oficinas, rodas de conversa e atividades práticas desenvolvidas em conjunto com as comunidades tradicionais não apenas enriquecem o aprendizado, mas também promovem um senso de pertencimento e valorização cultural (Batista et al., 2020). Esse envolvimento contribui para a preservação dos saberes ancestrais e para a formação de uma consciência ambiental crítica.
Estudos realizados em diferentes contextos destacam a relevância de integrar os saberes tradicionais ao ensino formal como forma de promover a sustentabilidade e fortalecer a identidade cultural. No Brasil, iniciativas em escolas indígenas e rurais têm demonstrado como o resgate desses saberes pode contribuir para o aprendizado significativo dos estudantes, além de criar um vínculo forte com suas origens culturais e territoriais (Franck; Fé; Scariot, 2024). Essas práticas também servem como exemplos de como a educação pode ser usada para preservar o patrimônio cultural e ambiental de comunidades marginalizadas.
A inclusão dos saberes tradicionais no ensino deve ser entendida como um complemento aos conhecimentos científicos. Essa integração permite que os estudantes desenvolvam uma visão ampla e crítica sobre questões ambientais, compreendendo-as tanto a partir de perspectivas locais quanto globais. Ao valorizar a riqueza dos conhecimentos ancestrais, a educação ambiental torna-se inclusiva e conectada às necessidades reais das comunidades, promovendo atitudes sustentáveis e fortalecendo o vínculo dos alunos com o meio ambiente (Gomes, 2022). A sinergia entre conhecimentos acadêmicos e saberes tradicionais é, portanto, essencial para a construção de uma sociedade consciente e respeitosa.
A adoção de práticas pedagógicas que integrem saberes tradicionais e educação ambiental também tem implicações na resistência e adaptação das comunidades às mudanças ambientais. Ao reconhecer e valorizar o conhecimento ancestral, as escolas também são importantes no fortalecimento das capacidades locais para lidar com os desafios da globalização e da degradação ambiental. Dessa forma, a educação torna-se um instrumento para o empoderamento das comunidades, contribuindo para a preservação de suas culturas e a gestão sustentável de seus territórios. Essa abordagem reforça a importância da educação ambiental como um catalisador de mudanças positivas e duradouras (Lopes, 2020).
DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO RESGATE DO SABER TRADICIONAL
A globalização tem gerado mudanças profundas nas culturas locais, influenciando diretamente as práticas tradicionais. A homogeneização cultural resultante desse fenômeno tem levado à marginalização de saberes ancestrais, como as práticas de manejo sustentável, medicina tradicional e rituais culturais. Esses conhecimentos, que por gerações sustentaram comunidades e ecossistemas locais, enfrentam desafios devido à crescente adoção de modelos ocidentais e tecnológicos. As novas gerações, atraídas pela modernização, têm negligenciado essas práticas, colocando em risco a continuidade do legado cultural e ambiental transmitido ao longo dos séculos (Batista; Milioli; Citadini-Zanette, 2020). O resgate e a preservação desses saberes não só são necessários para manter a diversidade cultural, mas também para o desenvolvimento de soluções sustentáveis que possam auxiliar a sociedade frente a problemas ambientais globais (Baptista; Guimarães; Pereira, 2020).
A falta de reconhecimento e valorização dos saberes tradicionais é um obstáculo para sua preservação, onde em muitos contextos, esses saberes são considerados ultrapassados ou pouco inovadores, especialmente quando comparados às ciências convencionais e suas tecnologias. As comunidades que ainda mantêm essas práticas frequentemente se veem à margem da sociedade moderna, o que dificulta a integração desses conhecimentos ao desenvolvimento sustentável. Além disso, as políticas públicas muitas vezes ignoram as práticas tradicionais, focando em soluções tecnológicas e afastadas das necessidades locais. A desvalorização dos saberes tradicionais não só prejudica as comunidades que os preservam, mas também impede o aproveitamento de suas soluções para os desafios ambientais atuais (Da Silva, 2022; Batista, 2020).
Apesar desses desafios, as oportunidades para a valorização dos saberes tradicionais são diversas. Uma delas está na aplicação dessas práticas para enfrentar problemas ambientais contemporâneos, como a degradação dos ecossistemas e as mudanças climáticas. As comunidades tradicionais, com seu conhecimento acumulado ao longo de gerações, possuem soluções que podem ser fundamentais para a gestão sustentável dos recursos naturais e preservação da biodiversidade. A integração dessas práticas ao contexto moderno pode resultar em estratégias eficientes e adaptáveis às particularidades de cada região, respeitando as culturas locais e promovendo a sustentabilidade a longo prazo. Esse processo de valorização representa não apenas uma preservação cultural, mas também uma resposta inovadora aos desafios globais (Lopes, 2020; Gomes, 2022).
A educação ambiental se destaca como um dos caminhos eficientes para integrar saberes tradicionais à sociedade contemporânea. Ao incorporar esses conhecimentos no currículo escolar, é possível formar cidadãos conscientes sobre a interdependência entre cultura, natureza e sustentabilidade. Programas de sensibilização comunitária, que promovem a educação ambiental, são igualmente importantes para garantir que as novas gerações compreendam e valorizem essas práticas. Além disso, ao incluir os saberes tradicionais na educação formal, os alunos têm a oportunidade de conhecer soluções práticas e sustentáveis para os problemas ambientais que enfrentam, contribuindo para a preservação do patrimônio cultural e natural (De Souza; Miranda; Romagnoli, 2023; Baptista; Guimarães; Pereira, 2020).
Existem várias iniciativas de sucesso voltadas para o resgate e a preservação dos saberes tradicionais. O “Projeto de Valorização das Culturas Indígenas”, por exemplo, tem se mostrado eficiente ao promover a inclusão dos saberes ancestrais no ensino formal, ao mesmo tempo em que incentiva a troca de conhecimentos entre diferentes gerações. Outras iniciativas, como as “Feiras de Saberes Tradicionais”, têm sido importantes para criar espaços de troca entre as comunidades locais e o público em geral. Essas feiras, além de promoverem o conhecimento tradicional, geram oportunidades econômicas para as comunidades, criando um ciclo positivo de valorização cultural e sustentável (Batista; Milioli; Citadini-Zanette, 2020).
A integração do saber tradicional no turismo sustentável tem se mostrado uma estratégia viável para a preservação e valorização dessas práticas. Comunidades têm criado projetos turísticos que respeitam suas tradições, como visitas a espaços culturais, oficinas de artesanato e atividades agrícolas. Esses projetos, ao mesmo tempo que geram renda para as comunidades, educam os visitantes sobre a importância da preservação do patrimônio cultural e ambiental. O turismo sustentável, dessa forma, não só oferece uma alternativa econômica, mas também contribui para o resgate dos saberes tradicionais, ao permitir que as comunidades se conectem com o mundo exterior de maneira respeitosa (Gomes, 2022; Lopes, 2020).
A digitalização é uma ferramenta crescente no resgate e preservação dos saberes tradicionais. O uso de plataformas digitais para armazenar e compartilhar receitas medicinais, técnicas agrícolas e práticas espirituais pode garantir que esses saberes não se percam com o tempo. As redes sociais e aplicativos podem ser aliados poderosos na divulgação e preservação dessas tradições, permitindo que o conhecimento seja compartilhado de maneira acessível. No entanto, é crucial que essa digitalização seja feita de forma ética, respeitando as especificidades culturais e evitando a apropriação indevida dos saberes, garantindo que as comunidades sejam protagonistas no processo de preservação e transmissão de seus conhecimentos (Macorreia, 2021; Da Silva, 2022).
Apesar das oportunidades de valorização, o resgate dos saberes tradicionais enfrenta resistência interna nas próprias comunidades. Em algumas regiões, as gerações jovens têm se afastado das práticas ancestrais, seduzidas pela cultura globalizada e pelas novas tecnologias. Essa dinâmica de desinteresse pode ser intensificada pela pressão externa para adotar modelos econômicos modernos, que muitas vezes desconsideram os valores culturais tradicionais. É essencial, portanto, que as iniciativas de resgate do saber tradicional considerem a adaptação das comunidades às novas realidades sem comprometer suas identidades culturais, buscando um equilíbrio entre preservação e adaptação (Batista; Milioli; Citadini-Zanette, 2020; Lopes, 2020).
O desafio da preservação dos saberes tradicionais não pode ser enfrentado isoladamente. É necessário um esforço conjunto entre as comunidades, os governos e as instituições educacionais para garantir a valorização desses conhecimentos como patrimônio cultural e ambiental. A criação de políticas públicas que integrem saberes tradicionais aos processos educativos e às práticas de gestão ambiental pode contribuir para o desenvolvimento de soluções sustentáveis, fundamentadas nos saberes ancestrais. O trabalho conjunto dessas partes é fundamental para a construção de um futuro equilibrado e justo para todos (Baptista; Guimarães; Pereira, 2020; De Souza; Miranda; Romagnoli, 2023).
A integração de práticas tradicionais ao contexto moderno não se limita apenas à preservação cultural, mas também oferece uma oportunidade de inovação em várias áreas, incluindo a educação e a gestão ambiental. Incorporar esses saberes ao dia a dia das comunidades e da sociedade em geral pode promover uma revalorização do que é autêntico e local, gerando impactos positivos no desenvolvimento sustentável. Para que essas práticas tenham sucesso, é fundamental que se compreenda a importância de respeitar a pluralidade cultural, incentivando a troca de experiências e saberes entre as diferentes culturas (Batista; Milioli; Citadini-Zanette, 2020; De Quadros; Tavares; Cardoso, 2022).
A preservação e valorização dos saberes tradicionais exigem uma abordagem interdisciplinar que considere aspectos culturais, sociais e ambientais. A integração desses saberes no ensino formal e nas políticas públicas é um passo importante para garantir sua continuidade e disseminação. Além disso, é necessário que as comunidades se sintam empoderadas para promover e preservar suas práticas, sem que haja imposição de modelos externos que possam comprometer suas identidades. O resgate do saber tradicional deve ser feito com respeito às dinâmicas locais, garantindo que as futuras gerações possam usufruir e compartilhar esses conhecimentos com o mundo (Guimarães, 2020; Batista; Milioli; Citadini-Zanette, 2020).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O objetivo deste estudo foi analisar como os recursos interativos podem impactar o ensino da sustentabilidade no contexto do ensino médio, focando em abordagens pedagógicas interativas, benefícios para o aprendizado e exemplos de experiências bem-sucedidas. Diversos estudos indicam que o uso de recursos interativos pode transformar a forma como a sustentabilidade é ensinada e percebida, principalmente ao integrar métodos pedagógicos que envolvem ativamente os alunos no processo de aprendizagem, promovendo uma educação crítica e participativa.
Em um estudo sobre interculturalidade e educação ambiental, Baptista, Guimarães e Pereira (2020) destacam que as práticas pedagógicas que incorporam as culturas indígenas, como a Guarani, podem enriquecer o ensino da sustentabilidade ao criar uma ligação direta entre saberes tradicionais e conceitos contemporâneos de conservação ambiental. As abordagens interativas, que consideram os contextos culturais dos alunos, revelam-se eficientes em fomentar a conscientização ambiental, pois conectam os conteúdos escolares com as realidades locais e culturais dos estudantes. Esses estudos corroboram a hipótese de que o ensino interativo, quando integrado com as culturas regionais e os saberes tradicionais, amplia o engajamento dos alunos e melhora a retenção de informações sobre sustentabilidade.
Outro estudo importante realizado por De Souza, Miranda e Romagnoli (2023) sobre a educação ambiental crítica na Amazônia revela que a Sala Verde Amanajé, uma iniciativa que utiliza recursos interativos e educacionais, tem demonstrado um impacto positivo no envolvimento dos alunos e na construção de uma consciência ambiental crítica. A pesquisa evidencia que, ao usar recursos como oficinas, debates e experiências práticas, os alunos desenvolvem uma compreensão profunda sobre a interdependência entre as questões ambientais locais e globais. Esse achado reforça a importância de metodologias interativas no ensino de temas complexos, como a sustentabilidade, permitindo que os estudantes construam suas próprias interpretações e soluções para problemas ambientais.
A utilização de metodologias participativas no ensino de sustentabilidade também é analisada por Da Silva (2022), que descreve a experiência do povo Jenipapo-Kanindé em suas práticas de ensino voltadas para a sustentabilidade e a preservação ambiental. Nesse estudo, a educação ambiental é integrada ao cotidiano das comunidades, promovendo o aprendizado por meio da vivência e do envolvimento direto com a natureza. Os resultados apontam que esse tipo de abordagem tem um efeito positivo não apenas no aprendizado dos estudantes, mas também na preservação do meio ambiente local, pois as comunidades se tornam conscientes e engajadas na proteção dos seus recursos naturais. Isso sugere que a pedagogia interativa e contextualizada, que envolve os alunos em práticas reais de preservação, é uma abordagem promissora para a educação ambiental no ensino médio.
Outro estudo relevante sobre a formação de educadores ambientais, realizado por Guimarães (2020), destaca a necessidade de capacitar os educadores para utilizarem métodos interativos e que integrem a teoria à prática. A pesquisa mostra que a formação de professores que utilizam tecnologias educativas, recursos audiovisuais e atividades participativas contribui para o desenvolvimento de competências críticas nos alunos. A partir desse estudo, é possível observar que a aplicação de recursos interativos no ensino de sustentabilidade no ensino médio não depende apenas da infraestrutura, mas também da qualificação dos educadores para integrar esses recursos de maneira eficiente.
A pesquisa de Batista, Milioli e Citadini-Zanette (2020) sobre os saberes tradicionais dos povos indígenas Mbya Guarani também mostra como as metodologias participativas são eficientes no ensino de sustentabilidade. O estudo indica que, ao integrar práticas tradicionais de uso e conservação da biodiversidade nas escolas, os alunos não apenas aprendem sobre o meio ambiente, mas também vivenciam e preservam os saberes ancestrais. A pesquisa sugere que o ensino interativo, que explora saberes locais e tradicionais, é indispensável no fortalecimento da identidade cultural e ambiental dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa sobre sustentabilidade.
Lopes (2020), ao estudar as epistemologias dos subalternizados nas práticas tradicionais de produção de grogu em Cabo Verde, enfatiza a relevância de se considerar os saberes locais e tradicionais em um contexto de educação ambiental. A pesquisa demonstra que, ao incluir práticas culturais locais no ensino de sustentabilidade, é possível criar um vínculo forte entre os alunos e os conteúdos ensinados, tornando o aprendizado relevante e aplicável à realidade dos estudantes. A utilização de recursos interativos, que abordam práticas culturais e ecológicas locais, contribui para uma aprendizagem autêntica e engajante, o que é confirmado pelas experiências positivas observadas nas comunidades de Cabo Verde.
Em relação ao uso de metodologias participativas no diagnóstico e resgate de saberes em comunidades de marisqueiras da Bahia, Batista et al. (2020) observam que a participação ativa das comunidades nas atividades educativas promove um aprendizado eficiente e uma maior conscientização sobre questões ambientais locais. O estudo sugere que as metodologias participativas, que envolvem diretamente as comunidades no processo de ensino, ajudam a promover um senso de responsabilidade compartilhada em relação à sustentabilidade. Esses resultados reforçam a ideia de que a educação interativa, ao integrar os alunos de forma ativa e prática, é eficiente na construção de uma consciência ambiental crítica e sustentável.
A pesquisa de Gomes (2022) sobre a utilização de trilhas interpretativas no Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto, também apresenta resultados positivos no uso de recursos interativos para o ensino da sustentabilidade. O estudo mostra que atividades como essas, que envolvem os alunos em experiências práticas e diretas com a natureza, ajudam a consolidar o aprendizado sobre o meio ambiente, além de promover a conscientização ecológica. A utilização de recursos como trilhas interpretativas, visitas a espaços naturais e workshops ambientais permite uma aprendizagem experiencial que é muito impactante do que métodos tradicionais, como aulas expositivas.
Além disso, o trabalho de De Quadros, Tavares e Cardoso (2022) sobre práticas educativas e sustentabilidade na Amazônia evidencia a importância de se utilizar materiais didáticos interativos, como recursos audiovisuais e atividades em grupo, para promover o ensino de sustentabilidade. Os resultados indicam que essas práticas não apenas aumentam o interesse dos alunos pelos temas ambientais, mas também facilitam a compreensão de conceitos complexos, como ecossistemas e biodiversidade. A pesquisa mostra que a combinação de diferentes tipos de recursos pedagógicos interativos contribui para uma aprendizagem eficiente e envolvente, corroborando a importância de abordagens variadas e dinâmicas para o ensino de sustentabilidade.
Os resultados dessas pesquisas apontam consistentemente que os recursos interativos são essenciais para o ensino de sustentabilidade, especialmente no ensino médio, onde o engajamento dos alunos é indispensável. As metodologias que utilizam práticas participativas, contextualização local e integração de saberes tradicionais não só tornam o aprendizado relevante, mas também estimulam uma conscientização crítica sobre os problemas ambientais. Dessa forma, é possível afirmar que os resultados confirmam a hipótese de que os recursos pedagógicos interativos têm um impacto positivo na aprendizagem da sustentabilidade, proporcionando uma educação efetiva e engajante para os alunos do ensino médio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações finais deste estudo refletem sobre os principais objetivos propostos, que eram analisar como os recursos interativos podem impactar o ensino da sustentabilidade no ensino médio, além de explorar as metodologias pedagógicas interativas e seus benefícios para o aprendizado. A metodologia utilizada permitiu uma análise crítica de diversas abordagens educacionais que integram esses recursos ao contexto do ensino ambiental. Constatamos que os recursos interativos são essenciais na promoção de práticas sustentáveis entre os alunos, facilitando o aprendizado e engajando-os de forma efetiva com o tema. O estudo demonstrou que tais recursos não só enriquecem a experiência educacional, mas também potencializam o envolvimento dos estudantes com as questões ambientais.
Os principais resultados encontrados destacam que, ao utilizar metodologias que combinam tecnologias interativas e saberes locais, o ensino sobre sustentabilidade se torna relevante e eficiente. Os alunos mostraram-se engajados e preparados para aplicar os conceitos aprendidos em suas vidas cotidianas. A importância desses achados é clara: a educação ambiental no ensino médio, ao adotar esses recursos inovadores, pode proporcionar uma mudança na formação de uma geração consciente e proativa em relação à preservação ambiental. No entanto, é necessário um maior investimento em infraestrutura e capacitação de educadores para maximizar o potencial desses recursos no ambiente escolar.
Em termos de implicações futuras, este estudo abre um caminho para novas pesquisas que explorem a expansão do uso de recursos interativos em diferentes contextos educacionais e regionais, além de avaliar o impacto a longo prazo dessas metodologias na mudança de comportamentos sustentáveis. A contribuição deste estudo para a área de conhecimento é significativa, pois oferece uma visão crítica sobre como as abordagens pedagógicas interativas podem transformar o ensino de sustentabilidade.
No entanto, o estudo também aponta para limitações, como a necessidade de estudos sobre a formação contínua dos professores e a adaptação desses recursos às diferentes realidades escolares. O futuro da educação ambiental dependerá da inovação constante nas práticas pedagógicas e da adaptação dos recursos às necessidades dos educadores e alunos, tornando o ensino acessível e impactante.
REFERÊNCIAS
BAPTISTA, Clara dos Santos; GUIMARÃES, Mauro; PEREIRA, Celso Sánchez. Interculturalidade e educação ambiental: possibilidades e desafios com a cultura Guarani. Revista de Educação Pública, v. 29, 2020.
BATISTA, Kátia Mara; MILIOLI, Geraldo; CITADINI-ZANETTE, Vanilde. Saberes tradicionais de povos indígenas como referência de uso e conservação da biodiversidade: considerações teóricas sobre o povo Mbya Guarani. Ethnoscientia-Brazilian Journal of Ethnobiology and Ethnoecology, v. 5, n. 1, 2020.
BATISTA, Kauane Santos et al. Uso de metodologias participativas no resgate de saberes e diagnóstico da comunidade de marisqueiras do Povoado Coqueiro/Jandaíra-BA. Cadernos de Agroecologia, v. 15, n. 2, 2020.
DA SILVA, Edson Vicente. Jenipapo–kanindé: uma história de lutas em busca da sustentabilidade e da educação ambiental. Geografia: Publicações Avulsas, v. 4, n. 1, p. 169-185, 2022.
DE QUADROS, João Plínio Ferreira; TAVARES, Mayra Patrícia Corrêa; CARDOSO, Sergio Ricardo Pereira. Práticas Educativas e Sustentabilidade: de Temas Geradores a Materiais Didáticos para Educação Ambiental Amazônida. Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas, v. 23, n. 5, p. 715-722, 2022.
DE SOUZA, Charleston Silva; MIRANDA, José Valdinei Albuquerque; ROMAGNOLI, Fernanda Carneiro. É possível uma educação ambiental crítica em perspectiva ecológica na Amazônia? O caso da Sala Verde Amanajé. Revista Transmutare, v. 8, 2023.
FRANCK, Wilson; FÉ, Francisca Cecília de Carvalho Moura; SCARIOT, Juliana Lopes. Direito dos desastres como arcabouço teórico-jurídico da cidade educadora: a cultura de educação ambiental para a mitigação dos desastres e a diminuição da vulnerabilidade das comunidades de São Paulo. Veredas do Direito, v. 21, p. e212660, 2024.
GOMES, Fernanda das Graças. Plantas medicinais em trilha interpretativa: educação ambiental e turismo ecológico no Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto, Minas Gerais. 2022.
GUIMARÃES, Mauro. A formação de educadores ambientais. Papirus Editora, 2020.
LOPES, Alexandrino Moreira. Epistemologias dos subalternizados: etnociência nas práticas tradicionais de produção de grogu para a sustentabilidade ambiental em Cabo Verde. 2020. Tese de Doutorado.
MACORREIA, Munossiua Efremo. Diversidade cultural tradicional na Educação Ambiental em Sussundenga-Moçambique. Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA), v. 16, n. 3, p. 457-472, 2021.
SAMPAIO, Tuane Bazanella. Metodologia da pesquisa. 2022.
Referencias
Share this :
Área do Conhecimento