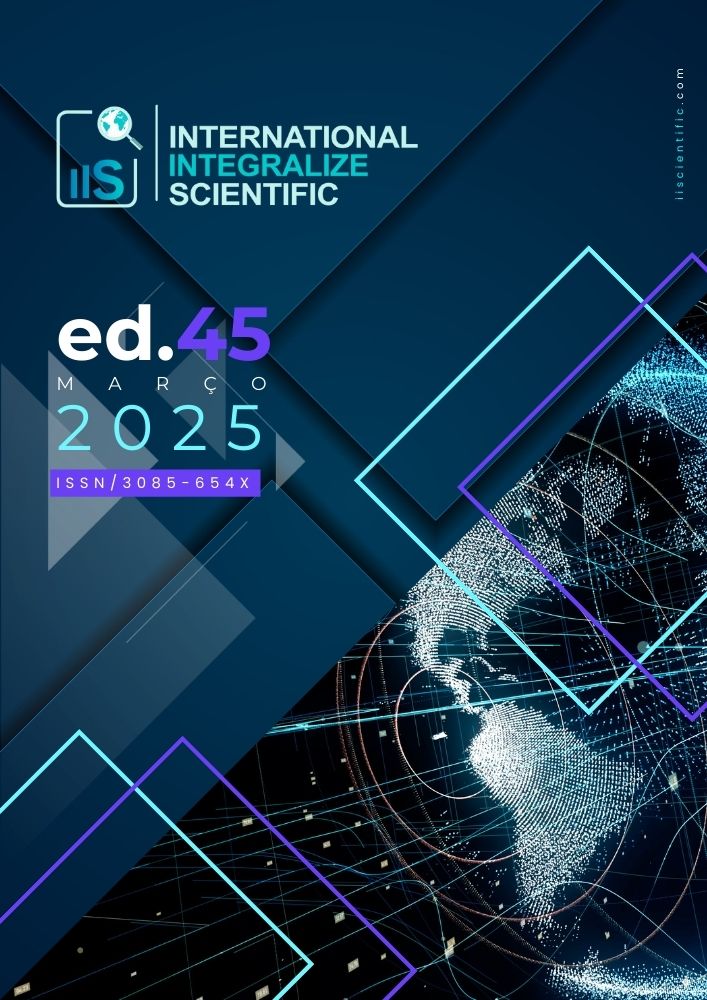INTRODUÇÃO
A crescente prevalência do consumo de alimentos ultraprocessados tem sido associada a riscos à saúde, como obesidade e doenças crônicas, configurando-se como um desafio global de saúde pública. Entre universitários, especialmente em cursos como Nutrição, espera-se que o conhecimento técnico adquirido ao longo da graduação promova escolhas alimentares mais saudáveis. Contudo, estudos como os de Bonalume et al.,(2020) e Macedo et al.,(2020) revelam que estudantes de Nutrição apresentam elevado consumo de ultraprocessados, contradizendo o pressuposto de que a formação acadêmica garante práticas alimentares adequadas. Esse paradoxo levanta questionamentos sobre como o progresso acadêmico, marcado pela aquisição de conhecimentos em nutrição e saúde, influencia efetivamente os hábitos alimentares desses estudantes.
Diante desse cenário, questiona-se: Como o avanço acadêmico na graduação em Nutrição impacta o consumo de alimentos ultraprocessados entre os estudantes? Apesar da expectativa de que o currículo acadêmico promova conscientização, fatores como rotina intensa, estresse e acesso limitado a alimentos frescos podem perpetuar o consumo de ultraprocessados, conforme apontado por Sampaio et al.,(2022) e Fondevila-Gascón et al.,(2022).
A relevância social reside na necessidade de compreender barreiras que impedem a aplicação prática do conhecimento nutricional, contribuindo para políticas educacionais e de saúde que reduzam o consumo de ultraprocessados entre futuros profissionais. Cientificamente, o tema amplia a discussão sobre a desconexão entre teoria e prática na formação acadêmica, complementando estudos como os de Silva (2018), que abordam a influência midiática na alimentação, e Durán-Agüero et al.,(2023), que associam ultraprocessados a obesidade em universitários.
Sugere-se que o progresso acadêmico reduza o consumo de ultraprocessados devido ao maior conhecimento em nutrição, conforme evidenciado por Silva Gomes et al.,(2019) sobre rotulagem. Contudo, é possível que a sobrecarga da graduação intensifique o consumo, como indicado por Macedo et al.,(2020), que identificaram alto consumo mesmo entre estudantes avançados.
O objetivo geral é analisar a influência do progresso acadêmico na graduação em Nutrição sobre o consumo de ultraprocessados entre estudantes. Os objetivos específicos foram: avaliar padrões de consumo de ultraprocessados em diferentes etapas do curso; comparar práticas alimentares entre calouros e veteranos; identificar fatores acadêmicos (carga horária, estágios) e psicossociais (estresse, acesso a alimentos) associados ao consumo.
REFERENCIAL TEÓRICO
Nos tempos contemporâneos, o estresse consolidou-se como uma constante na sociedade global. Cada indivíduo manifesta reações singulares a esse fenômeno, evidenciando respostas biológicas distintas, influenciadas pela intensidade e natureza das experiências estressoras, bem como por fatores ambientais, fisiológicos e psicológicos. Tais circunstâncias conduzem a distintas alterações comportamentais, incluindo o aumento do apetite e o consumo exacerbado de substâncias lícitas como tabaco e álcool, cujos efeitos deletérios tornam-se evidentes quando ingeridos de maneira desmedida (Penafort et al., 2016).
Diante desse cenário, verificou-se que o estresse exerce influência sobre o comportamento alimentar, direcionando preferências para alimentos dotados de elevada palatabilidade, caracterizados por teores elevados de gordura e açúcar. Além de seu significativo valor energético, tais alimentos são frequentemente consumidos como estratégia compensatória para amenizar estados emocionais adversos (Macedo; Soares; de Jesus; Pereira & Freitas, 2017).
Universitários encontram-se em uma etapa de transição determinante, na qual a vulnerabilidade a desequilíbrios emocionais se intensifica. O ambiente acadêmico impõe desafios substanciais, tais como exigências curriculares rigorosas, incertezas quanto ao futuro, adaptação à moradia distante da família e a responsabilidade pela aquisição e preparação dos próprios alimentos. Estes fatores exercem influência direta sobre os padrões alimentares, acarretando repercussões negativas na qualidade das escolhas nutricionais (Almeida, 2017).
Identificou-se uma relação adversa entre níveis elevados de estresse e o desempenho acadêmico, pois o acúmulo de tensão compromete a capacidade de concentração e assimilação de conteúdos. No entanto, essa correlação não se restringe exclusivamente ao fator estresse, uma vez que a ausência de práticas regulares de atividade física também se configura como elemento determinante. O sobrepeso, por sua vez, emerge como fator predisponente ao desenvolvimento de patologias crônicas não transmissíveis, incluindo diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica (Silva Lantyer; Varanda; Souza; Costa Padovani & de Barros Viana, 2016).
A constituição dos hábitos alimentares ocorre desde a infância, moldando-se progressivamente por meio do processo de socialização. Durante a adolescência, fase de transição para a vida adulta e momento usual de ingresso na universidade, tais hábitos sofrem modificações significativas, impulsionadas pela busca por identidade social. Ao longo da vida, novas influências e adaptações determinam a consolidação ou a transformação desses padrões alimentares (Silva, 2018).
O comportamento alimentar compreende um conjunto de ações que abrangem desde a decisão pela escolha dos alimentos até os métodos de preparo e consumo. Elementos como a disponibilidade dos insumos, os utensílios empregados, os horários das refeições em que ocorrem as práticas alimentares desempenham papeis relevantes nessa dinâmica. Adicionalmente, a diversidade geográfica e os costumes regionais influenciam de maneira expressiva as condutas alimentares individuais (Detopoulou; Dedes; Syka; Tzirogiannis & Panoutsopoulos, 2023).
Um padrão alimentar caracterizado pela ingestão descontrolada e volumosa de alimentos em um curto intervalo de tempo, geralmente acompanhado pela sensação de perda de controle, recebe a denominação de compulsão alimentar. Ademais, variáveis psicológicas, sociais, cognitivas e fisiológicas também exercem impacto significativo sobre os hábitos alimentares (Silva, 2018).
A associação entre tais fatores e a praticidade dos alimentos ultraprocessados pode desencadear distúrbios alimentares persistentes, categorizados como restrição cognitiva, descontrole alimentar e alimentação emocional. A restrição cognitiva caracteriza-se por um padrão rígido de restrições e proibições alimentares, adotado com o intuito de controle ponderal. Entretanto, essa abordagem, dependente de predisposições individuais, revela-se passível de alterações, uma vez que impõe limitações qualitativas e quantitativas à ingestão alimentar (Silva Lantyer; Varanda; Souza; Costa Padovani & Barros Viana, 2016).
O descontrole alimentar, por sua vez, manifesta-se pela incapacidade de autorregulação na ingestão de alimentos, independentemente da presença de fome. Este fenômeno, frequentemente associado a estímulos sensoriais, pode apresentar variações de gravidade, incluindo quadros mais severos que se vinculam a transtornos alimentares como anorexia, bulimia e síndrome do comer noturno (Silva Lantyer; Varanda; Souza; Costa Padovani & de Barros Viana, 2016).
A alimentação emocional relaciona-se à propensão de determinados indivíduos a modificarem sua ingestão alimentar em resposta a oscilações de humor ou eventos adversos. Indivíduos que exibem esse padrão frequentemente apresentam baixa autoestima e uma percepção negativa da própria imagem, circunstâncias que impactam diretamente as decisões alimentares (Bonalume; Alves & Conde, 2020).
O reconhecimento das particularidades inerentes a cada distúrbio alimentar torna-se fundamental para a adoção de estratégias eficazes de intervenção. Sob essa perspectiva, destaca-se a relevância de investigações que elucidem os fatores determinantes da qualidade de vida dos universitários. O avanço da urbanização e da globalização implicou modificações substanciais nos padrões alimentares da população, estabelecendo correlações entre hábitos alimentares e aspectos psicológicos. Os transtornos do comportamento alimentar configuram-se como uma condição patológica de notável pertinência (Fondevila-Gascón; Berbel-Giménez; Vidal-Portés & Hurtado-Galarza, 2022).
Conforme descrito no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (2013), em sua quinta edição, os transtornos alimentares correspondem a perturbações severas no comportamento alimentar, resultantes de uma etiologia multifatorial que engloba predisposições genéticas e influências biológicas, socioculturais e psicológicas. A literatura especializada aponta que os distúrbios do comportamento alimentar podem ser acentuados em função das atividades cotidianas e profissional, evidenciando maior risco entre universitários (Silva, 2018).
A progressão acadêmica dos estudantes de nutrição revelou-se determinante na frequência de consumo de alimentos ultraprocessados. Bonalume, Alves & Conde (2020) indicaram que, com o avanço dos anos de formação, houve uma redução significativa na ingestão desses produtos, evidenciando a influência do conhecimento acadêmico sobre as escolhas alimentares
A investigação sobre o ano acadêmico e a dependência alimentar demonstrou que estudantes do quarto ano apresentaram menores níveis de dependência alimentar em comparação aos matriculados nos primeiros anos do curso, indicando que a ampliação do conhecimento acadêmico esteve associada à adoção de hábitos mais saudáveis. A prevalência de dependência alimentar entre esses universitários foi registrada em 10,5%, com uma redução expressiva no consumo de alimentos ultraprocessados conforme avançavam nos anos acadêmicos (Unal & Uçar, 2023).
A influência de fatores relacionados ao estilo de vida também se mostrou relevante. Restrições de tempo e elevados níveis de estresse acadêmico favoreceram a escolha por refeições rápidas e ultra processadas, sobretudo nos períodos iniciais da graduação. A existência de ambientes alimentares comunitários estruturados, como mini mercados e padarias, foi associada a um menor consumo desses produtos, reforçando o impacto dos fatores externos na composição da dieta (Durán-Aguero et al., 2023).
O elevado consumo de alimentos ultraprocessados apresentou correlação com o aumento da incidência de sobrepeso e práticas alimentares inadequadas, indicando a relevância da educação nutricional para a minimização desses riscos (Silva et al., 2024). Uma parcela considerável dos estudantes relatou comportamentos alimentares inadequados, passíveis de intervenções educacionais (Bonalume; Alves & Conde, 2020).
Embora a progressão acadêmica tenha contribuído para hábitos alimentares mais saudáveis, as exigências da vida universitária continuaram a influenciar significativamente a ingestão de alimentos ultraprocessados, sobretudo entre aqueles nos primeiros anos do curso. Tal realidade destacou a importância de suporte e iniciativas educativas ao longo da trajetória acadêmica (Unal & Uçar, 2023).
O ingresso na universidade proporcionou maior autonomia e responsabilidade, promovendo mudanças na rotina alimentar. Jovens universitários frequentemente adotaram hábitos inadequados, elevando o risco de sobrepeso e o desenvolvimento precoce de doenças crônicas não transmissíveis (Silva, 2018). A exposição a padrões estéticos rigidamente impostos pela sociedade também contribuiu para questões como baixa autoestima e alterações no comportamento alimentar, incluindo transtornos alimentares (Almeida, 2017).
Estudantes da área da saúde apresentaram risco aumentado de alterações no comportamento alimentar, atribuído às demandas acadêmicas específicas. A graduação em Nutrição, tal fenômeno demonstrou-se ambíguo: enquanto para alguns a formação acadêmica favoreceu escolhas mais saudáveis, para outros representou um fator desencadeador de preocupações com a aparência física e imagem corporal, associadas ao êxito profissional (Macedo; Soares; de Jesus; Pereira & Freitas, 2017).
A alimentação reflete não apenas questões biológicas, mas também manifestações culturais e históricas dos grupos sociais, exercendo impacto direto sobre a saúde e o bem-estar. Alterações nos padrões alimentares têm sido observadas globalmente nas últimas décadas, impulsionadas por limitações de tempo para o preparo de refeições caseiras e pelo aumento do consumo de alimentos prontos e fast-food (Durán-Aguero et al., 2023).
Em estudo conduzido por Silva Pereira; Mussoi & Pereira (2019), 86 estudantes do curso de nutrição, matriculadas em instituições de ensino superior localizadas no Brasil e em Portugal, foram avaliadas quanto ao estado nutricional. Os resultados revelaram que 79,1% das estudantes portuguesas e 65,1% das brasileiras apresentavam estado nutricional considerado adequado. No entanto, no grupo brasileiro, verificou-se uma prevalência de 16,3% de sobrepeso e obesidade, concomitante a uma elevada taxa de insatisfação corporal (72,1%).
Esses dados refletem uma problemática relevante, pois, apesar de índices relativamente baixos de sobrepeso e obesidade, a insatisfação com a imagem corporal revela-se acentuada. Esse descompasso, observado entre estudantes de nutrição, pode contribuir para alterações comportamentais, favorecendo o desenvolvimento de transtornos alimentares e impactando negativamente a saúde mental, com possíveis repercussões como quadros depressivos (Santos et al., 2019).
O consumo de alimentos ultraprocessados entre estudantes de nutrição apresentou correlação com padrões alimentares distintos, diferenciando-se daqueles que ingeriram menores quantidades desses produtos. Investigações acadêmicas evidenciaram que uma maior ingestão desse tipo de alimento esteve associada a uma qualidade dietética inferior, caracterizada pelo aumento da densidade energética e pela redução do consumo de micronutrientes fundamentais (Macedo; Soares de Jesus; Pereira & Freitas, 2017).
A influência dos ultraprocessados sobre a qualidade da dieta manifestou-se de forma expressiva, com pesquisas indicando que esses produtos representaram até 80% da ingestão calórica em determinados grupos populacionais. O consumo exacerbado correlacionou-se com a elevação na ingestão de açúcares e gorduras adicionadas, enquanto reduziu significativamente a presença de fibras e vitaminas na alimentação (Martini et al., 2021; Vernarelli & Rubenstein, 2022).
Entre os estudantes de nutrição que mantiveram um padrão alimentar predominantemente baseado em ultraprocessados, observou-se uma maior incidência de práticas alimentares inadequadas e um aumento na prevalência do excesso de peso, o que sugeriu repercussões negativas sobre a qualidade nutricional de suas dietas (Silva, 2024).
A autoavaliação da qualidade da dieta por parte desses estudantes refletiu padrões de consumo alimentar, visto que indivíduos com uma maior ingestão de ultraprocessados geralmente classificaram sua própria dieta como inadequada. Estudos demonstraram que aqueles que relataram percepção negativa sobre seus hábitos alimentares obtiveram 84% de sua ingestão calórica a partir de produtos ultraprocessados (Vernarelli & Rubenstein, 2022). Tal percepção influenciou diretamente suas escolhas alimentares, perpetuando um ciclo de nutrição deficiente e potenciais desfechos adversos para a saúde.
METODOLOGIA
Esta pesquisa de campo, de caráter descritivo, com análise quali-quantitativa, foi realizada com 1.093 estudantes do curso de Nutrição, distribuídos entre o 1º ao 8º período. O estudo teve como objetivo analisar a influência do progresso acadêmico na graduação sobre o consumo de alimentos ultraprocessados entre esses estudantes. Para a coleta de dados, foi elaborado um formulário no Google Forms, contendo 29 perguntas. Destas, 10 eram demográficas, enquanto 10 questões específicas abordavam a regularidade da prática de exercícios físicos. Além disso, foram incluídas 6 perguntas sobre o consumo de carboidratos e café, com opções de respostas fechadas: Esporádico (menos de 2 vezes no mês), 1 a 3 vezes por semana, 1 a 2 vezes ao dia, 4 ou mais vezes por semana, e Não Consumo.
A amostra foi composta por estudantes de Nutrição matriculados em instituições de ensino superior de todas as regiões do Brasil, sem distinção de idade, sexo ou cor. A seleção dos participantes ocorreu por meio de convite direto e divulgação do formulário em redes acadêmicas e grupos de estudantes. Apenas participaram aqueles que concordaram em aprovar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) online. Foram excluídos os estudantes que não estavam regularmente matriculados no curso de Nutrição ou que se recusaram a aceitar o TCLE.
RESULTADO E DISCUSSÃO
O presente estudo investiga a influência do progresso acadêmico na graduação sobre o consumo de alimentos ultraprocessados entre estudantes de Nutrição, do 1º ao 8º período. A análise dos dados revela uma tendência de redução no consumo de diversos produtos ultraprocessados conforme os alunos avançam na graduação.
Tabela 1: Dados selecionados oriundos dos Google Forms (2025)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produtos ultraprocessados (embutidos, salsichas, etc.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Biscoitos, bolos, salgadinhos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Refrigerantes, sucos industrializados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preparações prontas congeladas (lasanha, pizza, etc.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doces industrializados (sorvete, tortas, balas, etc.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3+ vezes por dia |
4.0% |
5.0% |
6.2% |
7.0% |
6.7% |
8.8% |
12.8% |
15.0% |
Fonte: Síntese formulário no Google Forms (2025).
Os dados obtidos acerca do consumo de produtos Ultraprocessados, embutidos (tipo salsicha, linguiça, presunto, salame, mortadela, peito de peru, etc)entre universitários evidenciaram padrões que convergem e complementam as discussões presentes na literatura especializada. Silva (2018) e Almeida (2017) demonstraram que a publicidade exerce influência significativa na construção dos sentidos sociais sobre alimentação, impactando a adesão ao consumo desses produtos. Essa influência justificou a predominância do consumo esporádico entre os estudantes (44,5%), revelando uma conscientização parcial acerca dos efeitos adversos desses alimentos na saúde.
As investigações de Bonalume, Alves e Conde (2020) e Macedo et al.(2020) indicaram que universitários apresentaram níveis variáveis de consumo de ultraprocessados, sendo mais frequente nos semestres iniciais. Este fenômeno encontrou respaldo nos dados coletados, que apontaram maior variação nos primeiros períodos e uma tendência de redução nos estágios mais avançados do curso (7º e 8º semestres). Tal padrão sugere que o aprofundamento na formação acadêmica favoreceu escolhas alimentares mais criteriosas, conforme também sustentado por Ferreira et al.,(2019).
Os achados de Silva (2024) acerca dos impactos das refeições ultra processadas na sensibilidade à insulina e na função autonômica ressaltaram a relevância da redução do consumo desses alimentos, sobretudo entre indivíduos predispostos a doenças metabólicas. A parcela reduzida de estudantes que consumiram ultraprocessados diariamente (12%) encontrou-se potencialmente exposta a riscos nutricionais que comprometem a saúde a longo prazo, como apontado por Martini et al.,(2021) e Durán-Agüero et al.,(2023).
Ademais, a percepção dos estudantes sobre a rotulagem nutricional dos ultraprocessados, analisada por Silva Gomes, Alvarenga e Canella (2019), constituiu um fator determinante na modulação do consumo desses produtos. A presente pesquisa sugere que discentes de nutrição apresentaram maior discernimento alimentar, uma vez que muitos evitaram ou limitaram a ingestão de ultraprocessados, corroborando as conclusões de Fondevila-Gascón et al.,(2022) sobre a adoção de sistemas de classificação nutricional.
A distribuição dos padrões de consumo analisados reforça as tendências apontadas na literatura, evidenciando a influência da publicidade, as variações na ingestão ao longo da formação acadêmica e a conscientização alimentar entre estudantes de nutrição. A maior parte dos universitários (44,5%) relatou consumo esporádico de ultraprocessados, enquanto aproximadamente 25% ingeriram esses produtos entre uma e três vezes por semana. Um grupo reduzido (12%) apresentou consumo diário ou múltiplas vezes ao dia. A variação mais expressiva foi observada nos primeiros semestres do curso, ao passo que, nos períodos mais avançados (7º e 8º), o consumo frequente mostrou-se reduzido.
Sobre o consumo de produtos ultraprocessados do tipo biscoitos, biscoito recheado, bolachas, bolos, salgadinhos, os dados mostram variações no consumo desses alimentos durante a trajetória universitária. No primeiro semestre, 16,8% dos estudantes relataram não consumir ultraprocessados, percentual que caiu para 15,5% no segundo semestre, subiu para 18,3% no terceiro e alcançou 30,5% no oitavo semestre. O consumo esporádico também diminuiu, passando de 40,2% no início do curso para 28,9% no último semestre. O grupo que consumia ultraprocessados de uma a três vezes por semana apresentou variações ao longo do período acadêmico: 27,5% no primeiro semestre, 28,3% no segundo e 18,6% no oitavo. Já o consumo diário caiu de 7,5% para 3,2% ao longo dos semestres, enquanto o consumo frequente, de três ou mais vezes ao dia, aumentou de 8,0% no início do curso para 18,8% no oitavo semestre.
Ao comparar esses dados com a literatura existente, algumas tendências se destacam. Silva (2018) discutiu o impacto da publicidade de ultraprocessados na formação dos hábitos alimentares e sugere que uma maior conscientização sobre os efeitos negativos desses produtos pode explicar a redução do consumo esporádico e semanal entre universitários. Almeida (2017), por sua vez, analisa a evolução do consumo de ultraprocessados e aponta um crescimento ao longo dos anos, tendência que contrasta com os dados deste estudo, especialmente no oitavo semestre, onde o número de estudantes que não consomem esses alimentos aumentou.
Outras pesquisas reforçam a complexidade desse cenário. Bonalume et al.,(2020) e Macedo et al.,(2020) destacaram que o fácil acesso a alimentos ultraprocessados tende a estimular seu consumo entre universitários, mas os dados analisados aqui sugerem um movimento contrário, com redução no consumo regular ao longo do curso. Em um contexto internacional, Vernarelli e Rubenstein (2022) indicam que a percepção da qualidade alimentar pode influenciar as escolhas alimentares dos estudantes nos Estados Unidos, uma tendência que parece se repetir entre universitários brasileiros, conforme apontam os dados coletados.
Além disso, Ferreira et al.,(2019) exploraram a relação entre o consumo de ultraprocessados e o perfil socioeconômico, revelando que estudantes de classes mais altas apresentam maior prevalência desse consumo, um fator que deve ser considerado na interpretação dos resultados. Já Durán-Agüero et al.,(2023) analisam a conexão entre o consumo de ultraprocessados e a obesidade entre universitários chilenos, e, embora o presente estudo não tenha incluído um indicador específico de Índice de Massa Corporal (IMC), a redução no consumo frequente pode estar alinhada às recomendações de saúde pública.
Nos primeiros semestres, o consumo de bebidas açucaradas pelos estudantes apresentou uma distribuição variada, com tendências que refletem aspectos relacionados aos hábitos alimentares e à influência de fatores como a publicidade de alimentos ultraprocessados, conforme apontado por estudos como o de Silva (2018) e Almeida (2017). No 1º semestre, a maioria dos alunos (35%) não consumiam essas bebidas, enquanto 25% optaram por um consumo esporádico, e outros 25% consumiam de uma a três vezes por semana. Apenas 10% dos estudantes indicaram consumo diário. Os resultados podem ser parcialmente explicados pela crescente conscientização sobre os malefícios do consumo excessivo de bebidas ultra processadas, como sugerido por Bonalume et al.,(2020) e Vernarelli & Rubenstein (2022), que destacam o impacto da alimentação pouco saudável no estado nutricional dos indivíduos.
No 2º semestre, a distribuição do consumo tornou-se mais equilibrada, com 32% dos estudantes sem consumo, 28% consumindo esporadicamente, 20% consumindo de uma a três vezes por semana e 8% consumindo diariamente. Essa mudança pode estar relacionada a fatores como mudanças no ambiente universitário e na rotina, que influenciam os hábitos alimentares, uma tendência observada também nos estudos de Macedo et al.,(2020) e Sampaio et al.,(2022), que discutem o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados entre estudantes universitários.
No 4º semestre, a maioria dos estudantes (38%) continuou a evitar o consumo de bebidas açucaradas, com 29% consumindo esporadicamente e apenas 5% consumindo diariamente. Essa redução no consumo diário pode ser explicada por um maior entendimento sobre os riscos associados ao consumo excessivo de açúcares, conforme discutido por Ferreira et al.,(2019) e Martini et al.,(2021).
A partir do 5º semestre até o 8º, observou-se uma tendência crescente para o consumo esporádico e a não ingestão de bebidas açucaradas. No entanto, no 8º semestre, o consumo diário aumentou significativamente para 22%, refletindo uma possível adaptação dos estudantes aos padrões alimentares mais permissivos e a maior acessibilidade de produtos ultraprocessados, conforme descrito por Sürer et al.,(2023) e Durán-Agüero et al.,(2023).
Ao analisar os dados do consumo de preparações prontas congeladas ao longo dos semestres, é possível observar uma tendência que está alinhada com as conclusões de diversos estudos sobre o consumo de alimentos ultraprocessados entre universitários. No 1º semestre, o consumo foi baixo, com 35% dos estudantes não consumindo esses alimentos, um dado que corrobora com o que foi observado por Bonalume, Alves e Conde (2020), que indicaram que muitos estudantes universitários ainda mantêm uma alimentação mais natural no início de sua jornada acadêmica. A distribuição de consumo entre os outros grupos também se assemelha ao perfil de consumo descrito por Macedo et al.,(2020), que apontam a prevalência do consumo esporádico de ultraprocessados.
No 2º semestre, a distribuição mais equilibrada, com 32% dos estudantes não consumindo e 28% consumindo esporadicamente, pode ser vista como um reflexo das pressões acadêmicas que começam a influenciar mais os hábitos alimentares. A pesquisa de Ferreira et al.,(2019) sobre o consumo de alimentos ultraprocessados entre estudantes de diferentes níveis de ensino revela que o aumento da carga horária e a mudança de rotina acadêmica favorecem um maior consumo de alimentos ultraprocessados, justamente pela praticidade e conveniência desses produtos.
O aumento no consumo diário registrado no 3º semestre (17%) e a persistente escolha por não consumir (28%) refletem uma mudança significativa no comportamento alimentar, possivelmente devido a fatores como o aumento do estresse acadêmico, pouco tempo para preparo de refeições e maior disponibilidade de alimentos ultraprocessados no mercado (Silva, 2018). Essa mudança também é mencionada por Almeida (2017), que discute como a disponibilidade e o marketing influenciam o consumo de alimentos ultraprocessados em ambientes universitários.
O comportamento observado no 4º semestre, onde 38% dos estudantes ainda evitam esses produtos e apenas 5% consomem diariamente, sugere um possível retrocesso ou um retorno à preocupação com hábitos alimentares mais saudáveis. A variação pode estar relacionada ao fato de que, conforme os estudantes avançam em seus cursos, algumas mudanças de percepção sobre saúde e nutrição podem ocorrer, como evidenciado por Silva Gomes, Alvarenga e Canella (2019), que discutem o aumento do conhecimento sobre os malefícios dos alimentos ultraprocessados entre os universitários.
Nos semestres seguintes (do 5º ao 8º), a tendência de não consumo e consumo esporádico se mantém, mas no 8º semestre, o aumento do consumo diário para 22% pode estar relacionado ao acúmulo de tarefas e uma maior dependência da conveniência desses alimentos, o que é reforçado por estudos como o de Sampaio et al.,(2022), que indicam que, à medida que os estudantes avançam em sua trajetória acadêmica, o consumo de alimentos ultraprocessados tende a aumentar devido à sobrecarga de atividades e à diminuição do tempo para cuidados com a alimentação.
O consumo de alimentos ultraprocessados entre estudantes universitários tem sido amplamente discutido em diferentes estudos, que apontam suas consequências para a saúde e o estado nutricional. Bonalume et al.,(2020) e Macedo et al.,(2020) investigam como o consumo desses alimentos está relacionado com alterações no estado nutricional dos universitários, associando-o ao aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade. Ferreira et al.,(2019) também exploram esse consumo em estudantes de diversas escolas, destacando um aumento especialmente entre adolescentes e jovens adultos, o que se alinha aos dados sobre o consumo esporádico e diário observados entre os estudantes no último semestre de seu estudo.
Estudos como os de Silva Gomes et al.,(2019) e Fondevila-Gascón et al.,(2022) acrescentam que, apesar do crescente consumo de alimentos ultraprocessados, muitos estudantes universitários ainda não possuem pleno conhecimento sobre os efeitos adversos desses alimentos, como o impacto na saúde e no controle do peso. Tal desconhecimento pode explicar o alto consumo de alimentos ultraprocessados observado, especialmente em momentos de maior pressão acadêmica, como no último semestre.
Ao analisar as variações no consumo de alimentos ultraprocessados ao longo dos semestres, os dados apresentados indicam um aumento expressivo no consumo no último semestre do curso (60%), quando comparado aos 30,5% e 34,7% observados nos primeiros e segundos semestres, respectivamente. O padrão pode ser explicado, em parte, pelas mudanças no estilo de vida e no comportamento alimentar durante o curso universitário, algo já mencionado por Almeida (2017), que associa o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados ao estresse, à falta de tempo e à intensa rotina acadêmica dos estudantes no final de seu percurso.
Além disso, o estudo de Vernarelli & Rubenstein (2022) apontou que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados está diretamente relacionado ao aumento de problemas como obesidade, o que é consistente com os dados apresentados, sugerindo que a prevalência de consumo elevado desses alimentos pode ser um fator relevante na dinâmica de ganho de peso e outras complicações nutricionais observadas entre os estudantes no último semestre.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das análises realizadas, constata-se que o avanço acadêmico no curso de Nutrição influencia os padrões de consumo de alimentos ultraprocessados entre os estudantes, ainda que de forma não linear. Observou-se uma tendência à redução do consumo em estágios mais avançados do curso, o que sugere que o aprofundamento no conhecimento nutricional impacta positivamente as escolhas alimentares. No entanto, fatores como carga horária extensa, estresse acadêmico e acessibilidade de alimentos continuam a exercer influência significativa sobre os hábitos alimentares dos estudantes.
Os dados coletados evidenciaram que, nos primeiros semestres, há maior variabilidade nos padrões de consumo, com predominância de práticas menos criteriosas. O contato progressivo com disciplinas específicas da Nutrição parece contribuir para uma maior conscientização sobre os impactos do consumo de ultraprocessados na saúde, resultando na adoção de hábitos alimentares mais equilibrados nos semestres finais. Apesar disso, mesmo entre os estudantes avançados, o consumo desses produtos não foi totalmente eliminado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BONALUME, A. J., Alves, M. K., & Conde, S. R. (2020). Consumo de alimentos ultraprocessados e estado nutricional de universitários. Revista Destaques Acadêmicos, 12(3).
Bosi, M. L. M., Nogueira, A.D. Uchimura, K. Y., Luiz, R. R., & Godoy, M. G. C. (2014). Comportamento alimentar e imagem corporal entre estudantes de medicina. Revista Brasileira de Educação Médica, 38(02), 243-252.
BRIGNOL, A., Paas, A., Sotelo-Castro, L., St-Onge, D., Beltrame, G., & Coffey, E. B. (2024). Overcoming boundaries: Interdisciplinary challenges and opportunities in cognitive neuroscience. Neuropsychologia, 108903.
DETOPOULOU, P., Dedes, V., Syka, D., Tzirogiannis, K., & Panoutsopoulos, G. I. (2023). Relation of minimally processed foods and ultra-processed foods with the mediterranean diet score, time-related meal patterns and waist circumference: results from a cross-sectional study in university students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(4), 2806.
DURÁN-AGÜERO, S., Valdés-Badilla, P., Valladares, M., Espinoza, V., Mena, F., Oñate, G., … & Crovetto, M. (2023). Consumption of ultra-processed food and its association with obesity in Chilean university students: A multi-center study: Ultra-processed food and obesity in Chilean university students. Journal of American College HEALTH, 71(8), 2356-2362.
FERREIRA, C. S., Silva, D. A. Gontijo, C. A., Rinaldi, A. E. M. (2019). Consumption of minimally processed and ultra-processed foods among students from public and private schools. Revista Paulista de Pediatria, 37(2), 173-180.
FONDEVILA-GASCÓN, J. F., Berbel-Giménez, G., Vidal-Portés, E., & Hurtado-Galarza, K. (2022, May). Ultra-processed foods in university students: implementing nutri-score to make healthy choices. In Healthcare (Vol. 10, No. 6, p. 984). MDPI.
MACEDO, N. S. R. Soares, I. C. M., de Jesus, S. C. Pereira, E. J., & Freitas, R. F. (2020). Consumo de alimentos ultraprocessados e estado nutricional de acadêmicos do curso de nutrição. RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, 14(87), 699-706.
MACEDO, N. S. R. Soares, I. C. M., de Jesus, S. C. Pereira, E. J., & Freitas, R. F. (2020). Consumo de alimentos ultraprocessados e estado nutricional de acadêmicos do curso de nutrição. RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, 14(87), 699-706.
MARTINI, D., Godos, J., Bonaccio, M., Vitaglione, P., & Grosso, G. (2021). Ultra-processed foods and nutritional dietary profile: a meta-analysis of nationally representative samples. Nutrients, 13(10), 3390.
PENAFORT, A. G., Carneiro, I.B. , P., Carioca, A. A. F., Sabry, M. O. D., Pinto, F. J. M. de Carvalho Sampaio, H. A. (2016). Coffee and caffeine intake among students of the Brazilian Northeast. Food and Nutrition Sciences, 7(1), 30-36.
SAMPAIO, K. M. Oliveira, C. N., Pretto, A. D. B., & Moreira, Â. N. (2022). Hábitos alimentares e bulimia nervosa em estudantes de nutrição e Letras/Português de uma universidade pública do Brasil. RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, 16(101), 270-281.
Santos Porto, T. N. R. da Rocha Cardoso, C. L., Baldoino, L. S. de Sousa Martins, V., Alcântara, S. M. L., Carvalho, D. P. (2019). Prevalência do excesso de peso e fatores de risco para obesidade em adultos. Revista Eletrônica Acervo Saúde, (22), e308-e308.
SILVA GOMES, P. F. de Almeida Alvarenga, R., & Canella, D. S. (2019). Uso e conhecimento sobre rotulagem de alimentos ultraprocessados entre estudantes universitários. Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia, 7(2), 75-81.
SILVA LANTYER, A., Varanda, C. C., C. de Souza, F. G., da Costa Padovani, R., & de Barros Viana, M. (2016). Ansiedade e qualidade de vida entre estudantes universitários ingressantes: avaliação e intervenção. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 18(2), 4-19.
SILVA PEREIRA, G., Mussoi, T. D. Pereira, R. F. (2019). Estado nutricional e percepção da imagem corporal de acadêmicas universitárias do curso de Nutrição do Brasil e de Portugal. Disciplinarum Scientia| Saúde, 20(1), 85-94.
SILVA, M. B. G. (2024). Efeitos de refeições ricas em alimentos ultraprocessados comparadas a refeições sem alimentos ultraprocessados nas medições apetitivas, efeito térmico dos alimentos, função autonômica e sensibilidade à insulina em indivíduos com obesidade.
Sürer, E., Ünal, M., Aygün, E. B. G., & Ucar, Y. (2023). Evaluating the conversion degree of interim restorative materials produced by different 3-dimensional printer technologies. The Journal of Prosthetic Dentistry, 130(4), 654-e1.
VERNARELLI, J., & Rubenstein, V. (2022). Ultraprocessed Food Consumption, Diet Patterns, and Perception of Diet Quality and Body Weight in the US. Current Developments in Nutrition, 6, 409.