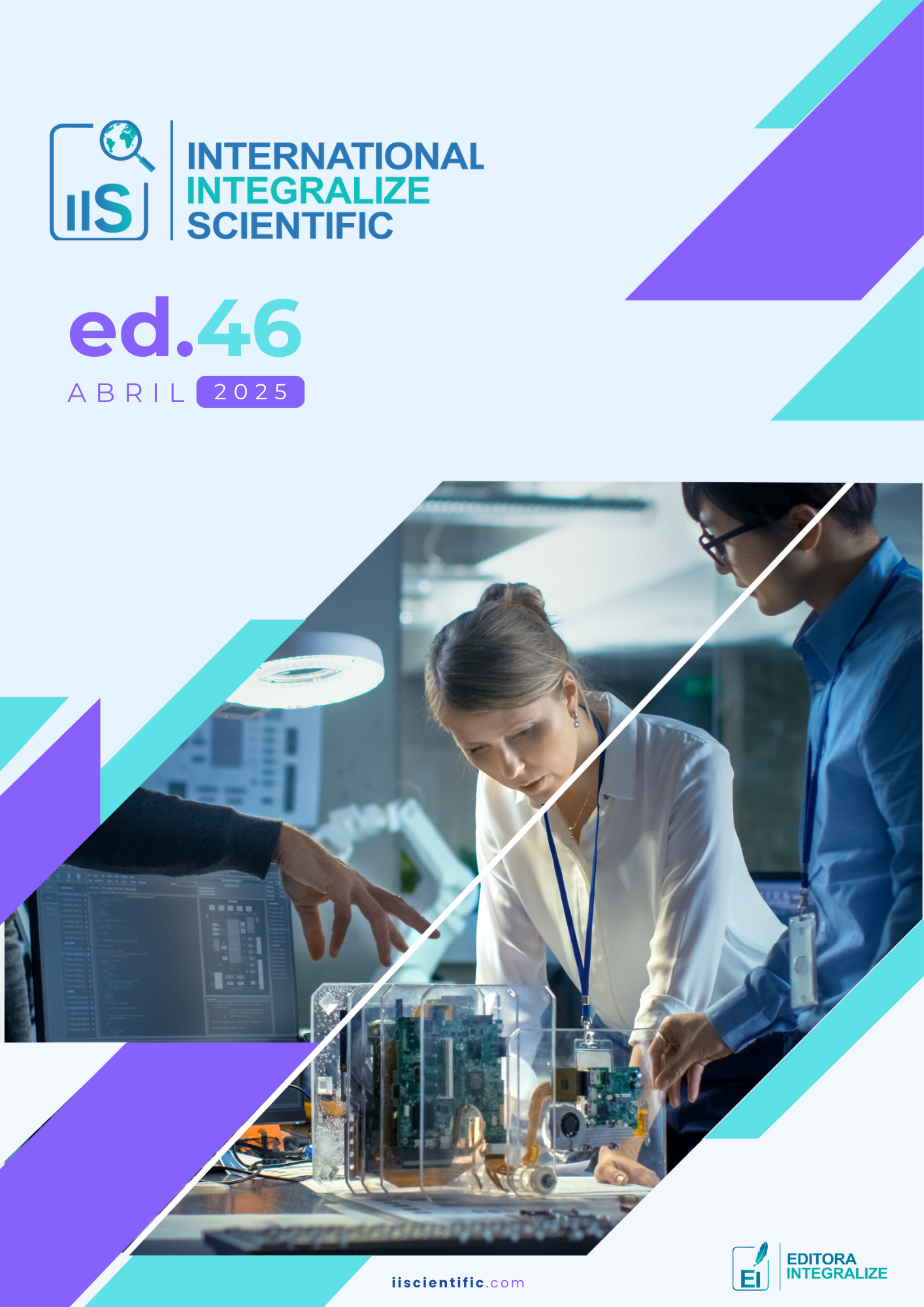Desafios para o enfrentamento a violência escolar e seus impactos no processo de ensino e aprendizagem na educação básica.
DIFFICULTIES FOR CONFRONT SCHOOL VIOLENCE AND ITS IMPACTS ON THE TEACHING AND LEARNING PROCESS IN BASIC EDUCATION
DESAFÍOS PARA ABORDAR LA VIOLENCIA ESCOLAR Y SUS IMPACTOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
Autor
Resumo
Summary
Resumen
INTRODUÇÃO
Este estudo analítico aborda a questão da violência nos ambientes escolares, investigando as dificuldades enfrentadas por professores, gestores e alunos da rede básica de ensino. Nesta perspectiva, as discussões focam em entender como o fenômeno atual da violência escolar tem afetado o próprio processo de ensino e aprendizagem, bem como na definição das estratégias sócio institucionais necessárias para lidar com essa questão numa escala macro. Partindo das concepções teóricas e analíticas sobre o assunto, o estudo oferece uma visão geral de como essa problemática impacta a vida diária dos sujeitos escolares, além de explorar os principais fatores causais, consequências práticas e as possibilidades reais de enfrentamento.
A partir dessas questões supracitadas, registra-se que a questão da violência escolar é um problema de pesquisa relevante a ser estudado do ponto de vista acadêmico-científico, o qual é definido a partir da referida pergunta: quais as causas da violência escolar no contexto contemporâneo e de que forma este fenômeno tem impactado o processo de ensino e aprendizagem nas instituições de ensino da educação básica? Foi com o intuito de compreender os múltiplos fatores causas relacionados ao tema e ao mesmo tempo responder a essa pergunta destacada, que o desenvolvimento da pesquisa está direcionado.
Com base nisso, foi definido o objetivo geral da pesquisa que é analisar os impactos socioeducacionais do fenômeno da violência escolar para alunos e profissionais docentes da educação básica, a partir da delimitação dos seus fatores causais e consequências. É importante salientar que esse objetivo geral foi desmembrado em específicos, sendo eles: compreender o conceito de violência escolar numa perspectiva multicausal; identificar as medidas institucionais estabelecidas pelo Estado para viabilizar o enfrentamento desta problemática; refletir acerca da violência nas escolas da rede básica de educação e seus impactos no processo de ensino e aprendizagem.
No que diz respeito à estrutura metodológica da pesquisa, registra-se que foi utilizada uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo, objetivando compreender o fenômeno descrito no enunciado da pesquisa. Diante disso, foi realizada uma revisão bibliográfica a partir de autores que versam sobre o tema, como por exemplo: (2014). Seguindo essa linha metodológica, foi possível não apenas compreender a questão da violência escolar, mas sobretudo delimitar os seus efeitos práticos no contexto da educação básica, servindo, portanto, de norte para os diversos sujeitos interessados em debater o tema. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de natureza teórica, estabelecida à luz da crítica dialética.
A VIOLÊNCIA ESCOLAR NUMA PERSPECTIVA CONCEITUAL: FATORES CAUSAIS, TIPOLOGIAS E DESAFIOS
A questão da violência nas escolas tem sido objeto de intensos debates e investigações teóricas, todas elas tendo por objetivo de identificar os diversos fatores que a influenciam e as consequências práticas para os diversos sujeitos que fazem a educação contemporânea. Nessa tentativa de teorização, busca-se entender a problemática por meio de informações oficiais, observações empíricas e outros modelos analíticos da realidade, que frequentemente não conduzem a resultados unânimes. Dentre as possíveis causas apontadas, destacam-se fatores familiares, a reprodução de uma cultura de normalização da violência no meio social, a exclusão social na comunidade e nas instituições, dentre outros elementos que, à primeira vista, ajudariam a esclarecer como a violência se estabeleceu nos ambientes de ensino.
Tomando como recorte as inúmeras pesquisas dedicadas à compreensão da violência nas escolas, observa-se que muitas delas mencionam a questão da fragilização dos laços familiares como um fator determinante. Essa fragilização, impulsionada por questões psicológicas ou comportamentais, reflete diretamente no ambiente escolar. Assim, percebe-se que o comportamento agressivo de alguns alunos – como também por parte dos professores, em certa medida – pode ser uma reprodução das dinâmicas de exploração, medo e constrangimento que prevalecem em seus lares, cujas raízes estão tipicamente ligadas a fatores sociais. Essas formas de violência na escola seriam, em sua essência, uma exteriorização da desregulação nas interações familiares, resultando na fragilização da relação com a criança ou estudante. Com relação ao papel da família como um fator causador, a citação a seguir faz os devidos esclarecimentos:
Diante deste contexto, a família enquanto um espaço de socialização e de construção das subjetividades, é a base para a formação da personalidade. Entretanto, não se pode deixar de destacar que desde o nascimento o sujeito recebe inúmeros estímulos em variados ambientes e são essas influências que ajudam na formação do caráter e da personalidade. Muitas das sementes da violência na escola começam em casa com a falta de autoridade e consequente falha de regras, a ausência ou esbatimento dos modelos de comportamento dos pais e pelo abandono, abuso e frustrações de que são vítimas. Além disso, a ausência de regras e de responsabilidades impossibilita o exercício da liderança, o que consequentemente dificulta educação para a vida e para a sociedade (Silva et al., 2019, p. 4).
Conforme apontado na citação, quando os pais falham na constituição das subjetividades cidadãs de seus filhos, a probabilidade destes últimos manifestarem comportamentos violentos na escola tende a aumentar. Embora se reconheça a violência como uma consequência da desestruturação das relações familiares, não se pode deixar de considerar que a sua manifestação na escola também deriva da transferência de responsabilidade no ato de educar dos pais para a instituição escolar, especialmente em função das demandas do trabalho e da escassez de tempo. Assim, o aluno acaba se desenvolvendo sem a devida orientação familiar, o que pode gerar frustrações e baixo desempenho, que se manifestam em formas de agressividade e violência. Evidentemente, qualquer que seja a conclusão sobre o tema, não pode desconsiderar o conjunto de fatores multicausuais que tem relação direta com as expressões da violência na escola.
Conforme cita Abramovay (2005), os aspectos familiares devem ser considerados nas discussões sobre o comportamento dos estudantes nas escolas, desde que essa análise não recaia no reducionismo, ou seja, que não se busque entender as causas da violência numa perspectiva isolada ou descontextualizada. O autor reconhece que os problemas familiares se constituem como uma entre diversas causas possíveis para compreender o fenômeno da violência escolar. Sob essa ótica, é comum que questões estruturais, sociais e institucionais se sobreponham, refletindo as falhas e desigualdades presentes no sistema político e educacional do país. Assim, a violência deve ser examinada em diferentes níveis e contextos, uma vez que os fatores que causam a sua materialização estão quase sempre ligados a questões complexas e externas ao ambiente escolar.
Além do fator familiar, Martins (2005) menciona diversas causas externas que contribuem para a indisciplina e a violência nas escolas, incluindo: escassez de recursos humanos; inexistência de normas que organizem o funcionamento da instituição; deficiência na infraestrutura de locais destinados à socialização e atividades educativas comuns; falta de coordenação entre os integrantes da equipe pedagógica; repetição de comportamentos indisciplinados e uso de substâncias ilícitas; desordem; autoritarismo nas relações entre professores e alunos; normalização da cultura da violência; e a inatividade da comunidade e da família em discutir questões fundamentais como violência e indisciplina. Contudo, o autor ressalta que esses aspectos devem ser considerados em conjunto, pois fazem parte de um processo que assume características distintas em cada instituição, o que faz da violência um fenômeno que se manifesta na escala micro e macro.
Além do aspecto familiar, outro elemento que tem uma forte ligação com a violência nas instituições de ensino é a desigualdade e exclusão social. Existe um certo consenso entre especialistas de que o fator socioespacial – que se refere ao contexto relacionado às condições de exercício ou negação da cidadania – é significativo nas situações em que a violência se manifesta, especialmente em ambientes educacionais situados em regiões e comunidades periféricas, onde a implementação de políticas e ações estruturais é, em sua maioria, insuficiente ou completamente ausente. É importante ressaltar que a violência não ocorre exclusivamente em áreas socialmente marginalizadas; no entanto, é nesses locais que a falta de presença estatal provoca contradições sociais mais evidentes, manifestadas sob a forma de violência, conforme aduz a citação a seguir:
a violência escolar emerge não apenas como uma questão individual, mas principalmente como um sintoma de problemas sociais mais profundos, como desigualdades, exclusão social e falhas em políticas públicas. A prevalência da violência escolar desafia a noção de que as escolas são meramente instituições de ensino e aprendizagem. Essa expectativa é frequentemente desafiada por uma complexidade de interações violentas que vão além das dinâmicas simples de agressor e vítima. Uma abordagem estática que classifica os envolvidos apenas como agressores ou vítimas pode desconsiderar o ciclo vicioso pelo qual estudantes e outros membros da comunidade escolar interagem de maneira violenta, seja como alvos ou perpetradores de agressões até mesmo em situações cotidianas aparentemente simples (Cunha et al., 2023, p. 5).
A citação anterior aponta que o aspecto social é prioritário na interpretação das causas e consequências desse fenômeno nas instituições de ensino. Contudo, ao investigar a relação entre o meio e a violência, Lima (2012) afirma que é preciso perceber que a intensificação dos processos de exclusão social em regiões periféricas se configura como um fator de risco, mas não um fator decisivo. Dessa maneira, qualquer tentativa de estabelecer uma relação causal direta entre pobreza, exclusão, falta de políticas públicas e violência escolar, deve-se considerar o conjunto dos fatores mencionados anteriormente. Mesmo porque, qualquer delimitação precisa de uma possível causa, impactaria desconsiderar as interações e influências externas dessa problemática, sobretudo numa perspectiva macro institucional.
Ao examinar a relação entre o contexto socioeconômico e a violência nas escolas, Silva e Assis (2017) destacam que, embora seja possível associar esse fenômeno a determinados locais – como por exemplo os “bolsões sociais” de pobreza e exclusão –, é indiscutível que a exposição dos alunos à normalização da violência não advém unicamente do meio em que vivem, já que a violência escolar também se materializa em extratos sociais de melhor poder aquisitivo. Os autores destacam ainda que muitas escolas ignoram essa questão social, isto é, a desconexão entre o ambiente escolar e a cultura da violência que atinge a todos, ainda que de forma diferenciada. Essa problemática resulta de um aumento na vulnerabilidade a comportamentos predatórios e à falta de civilidade, que afeta todos os indivíduos e espaços que compõem a comunidade escolar.
Uma das causas da violência está ligada à aceitação da cultura do medo que afeta principalmente as áreas urbanas, embora também ocorram episódios de violência escolar nas áreas rurais. Gama (2009) destaca que essa normalização cultural se manifesta, pelo menos em parte, através da disseminação de simbolismos e códigos presentes na mídia e nas tecnologias de acesso à informação, seja em casa, na comunidade ou nas instituições de ensino. Ao considerar a violência como algo comum do cotidiano, forma-se um ambiente que desvaloriza a dignidade humana e diminui a importância da vida em sua totalidade. Dessa maneira, a violência acaba sendo reproduzida diariamente como se fosse uma característica natural das interações sociais, quando na verdade a essência da vida em comunidade deveria ser fundamentada na promoção de uma cultura pacífica:
Ao analisarmos a cultura, nos deparamos com diversos fatores ideológicos que nos fazem entender algumas teorias que explicam que a violência escolar, tanto física como simbólica, advém das narrativas e da mídia em geral. Os responsáveis pela instituição escolar, ao naturalizarem as raízes e consequências decorrentes da violência simbólica e concreta, estão negligenciando a função social da escola e reproduzindo a posição sugerida pelos discursos dominantes. Dessa forma, o mito da não-violência, acolhido mesmo que inconscientemente, acha solo totalmente fertilizado e pronto para desenvolver as raízes da violência nas instituições de ensino do país (Santos, 2013, p. 9).
Com base no que foi mencionado anteriormente e levando em conta outros aspectos destacados, é possível afirmar que entre os fatores que contribuem para a violência nas escolas, os principais são: a falta de políticas públicas adequadas para o seu enfrentamento no sistema educacional; a insuficiência de recursos humanos e organizacionais nas instituições de ensino; a desestruturação das relações familiares; a presença de violência no ambiente doméstico; a influência da mídia na normalização da cultura de insegurança e violência, entre outros. Além disso, as experiências de violência que os alunos vivenciam em seus contextos sociais têm gerado um grande impacto na manifestação de comportamentos de indisciplina e incivilidade nas escolas que, embora identificados, ainda não foram adequadamente enfrentados pelas práticas pedagógicas adotadas.
Esses fatores que geram violência se desdobram em uma variedade de manifestações e formas. Evidentemente, há uma propensão da sociedade em associar esse fenômeno à manifestação de agressão física ou psicológica. No entanto, ao se examinar a literatura que versa sobre o tema, percebe-se que a violência assume diferentes formas em cada ambiente, criando condicionamentos e consequências, dependendo das interações sociais que são estabelecidas entre os indivíduos dentro da escola, e as relações desta com a comunidade ao seu redor.
A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR
Diversas pesquisas acadêmicas que versam sobre o fenômeno da violência nas escolas têm ressaltado que uma das soluções eficazes para o arrefecimento da problemática consiste na reestruturação dos laços de empatia entre educadores e alunos. Essa transformação permitiria não só a compreensão das consequências da violência escolar, mas também a capacitação do professor para prevenir essas situações em sala de aula, nos demais ambientes escolares e na própria comunidade. Paulo (2022) afirma que os alunos que apresentam um histórico de comportamentos violentos ou que tendem a desestabilizar a convivência escolar possuem concepções que podem ser abordadas através de intervenções pedagógicas feitas pelos professores ou pela gestão da escola. Dessa forma, o fortalecimento das relações interpessoais pode oferecer uma nova perspectiva para essa questão seja de fato enfrentada
De acordo com Estrela (2002) e Pinto (2008), a relação de proximidade (ou a falta dela) entre professores e alunos é fundamental para entender as manifestações da violência nas escolas. No entanto, isso não significa dizer que todas as formas de violência derivem da fragilidade no trato pedagógico entre ambos. Para a autora, é preciso fazer uma reflexão sobre os impactos da violência, tanto interna quanto externa, analisados à luz da atuação dos educadores que têm uma responsabilidade na mitigação dos efeitos advindos de relações conflituosas. O profissional docente deve desenvolver uma visão construtiva sobre sua função no ambiente escolar, utilizando práticas educacionais que possam identificar e abordar o fenômeno da violência e suas consequências.
Portanto, uma interação harmoniosa entre professor e aluno no enfrentamento à violência nas escolas é essencial, inclusive buscando instituir a ideia do respeito pela autoridade do docente e a compreensão de que os direitos individuais são proporcionais às responsabilidades. Em relação às obrigações, é fundamental que o aluno perceba que a violência, assim como qualquer comportamento que cause instabilidade nas instituições educacionais, pode acarretar consequências graves para o seu desenvolvimento escolar e cidadão. Porém, o foco não deve ser tão somente no aspecto punitivo, mas também na perspectiva pedagógica de que a violência afeta a vida dos sujeitos escolares, seja em menor ou maior grau. A citação a seguir destaca a importância dessa relação de proximidade:
É importante que os professores façam um diagnóstico em seu meio, percorrendo uma trajetória que venha facilitar o controle da violência e o estabelecimento de uma cultura de diálogo com os seus alunos. A relação entre professor e aluno depende, fundamentalmente, do clima estabelecido pelo professor, da relação empática com seus pares, de sua capacidade de ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos e da criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles. Indica também, que o professor, educador da era contemporânea, deve buscar educar para as mudanças, para a autonomia, para a liberdade possível, numa abordagem global, trabalhando o lado positivo dos alunos e para a formação de um cidadão consciente de seus deveres e de suas responsabilidades (Silva, 2004, p. 20).
Evidentemente, a construção dessa relação de proximidade que é destacada na citação nem sempre ocorre de maneira fácil. O próprio histórico de dificuldades sociais e familiares de parte dos estudantes torna ainda mais desafiadora essa mediação, uma vez que muitos educadores não se sentem à vontade para dialogar sobre o tema com seus pares e os estudantes. Muitos preferem adotar uma postura de retração, evitando intervenções que poderiam levar a uma maior proximidade e compreensão das questões comportamentais que podem desencadear situações de violência, seja entre os alunos ou direcionadas ao professor. As possíveis soluções para a violência nas escolas devem ser fundamentadas no diálogo que ocorre na relação entre professor e aluno e na dinâmica entre escola e comunidade.
Conforme cita Santos (2013), a relação de proximidade entre professores e alunos é fundamental para entender os impactos da violência nas escolas. No entanto, isso não significa dizer que todas as formas de violência decorrem da fragilização desse laço educacional. Na realidade, o autor busca enfatizar que tanto a violência interna quanto a externa ao ambiente escolar, devem ser enfrentadas a partir do reestabelecimento das relações, pois elas têm um papel crucial em mitigar outras falhas do processo educacional. O professor deve adotar uma visão abrangente sobre sua função no ambiente escolar atual, empregando abordagens pedagógicas que ajudem a identificar o fenômeno da violência, suas repercussões e formas de mudança.
Sabe-se que a violência nas escolas é influenciada por diversos fatores, incluindo o respeito à figura do educador. Nesse contexto, o conceito de autoridade foi se modificando ao longo da história, superando inclusive a ideia de um indivíduo que exerce seu domínio sobre os demais. No ambiente escolar, a autoridade assume uma perspectiva pedagógica, na qual o professor desempenha um papel central na orientação do processo educativo. Isso não significa que o aluno deve ser um sujeito passivo, mas sim que ele deve ter espaço para questionar, refletir e expressar suas opiniões. Ao se discutir a fragilidade das interações sociais nas escolas, é comum afirmar que a violência se origina da falta de autoridade do educador. No entanto, essa concepção não deve ser explicada de maneira simplista, pois a falta de respeito ao professor é apenas uma parte dessa estrutura mais complexa que contribui para a emergência de conflitos na escola.
Ao analisar essas questões destacadas, Silva e Gonçalves (2021) defendem que a autoridade do professor deve estar ligada à dimensão ético-pedagógica, em vez de ser focada na centralização do aprendizado nas mãos do educador. Os autores argumentam que essa autoridade é um elemento regulador no trabalho pedagógico e, por isso, atua como um dos meios de enfrentamento à violência nas escolas. Assim, não se deve confundir essa autoridade com autoritarismo, uma vez que as instituições educacionais estabelecem uma relação de igualdade entre professores e alunos, respeitando as diversas concepções de mundo de cada um. A autoridade profissional no sentido de enfrentar a violência está relacionada à disposição do professor de assumir a responsabilidade de agir sobre as causas e consequências do problema. Esse entendimento de autoridade também se conecta com a função de mediador:
Deste modo, subentende-se que os professores, ao discutirem a problemática da violência com seus alunos numa perspectiva dialética, devem unir esforços para que os mesmos repensem o porquê dos seus atos e para que a escola repense a sua função no sentido de procurar assegurar a construção de conhecimentos significativos pelo aluno, pois ao se almejar uma sociedade mais democrática, justa e igualitária, é preciso repensar a prática pedagógica e começar por refletir acerca das contradições sociais existentes na sociedade a fim de encontrar formas de superá-las. A complexidade da incidência do fenômeno de violência nas escolas implica na necessidade de construir e desenvolver um projeto pedagógico para direcionar, orientar e organizar as ações das escolas de modo que estas sejam mais coerentes e eficazes na consecução dos seus propósitos (Silva, 2004, p. 20).
O enfrentamento à questão da violência nas escolas requer um diálogo sobre a valorização do outro e a construção de uma cidadania coletiva, a partir da mediação do trabalho docente. Nesse sentido, é fundamental que cada aluno compreenda que a convivência em sociedade demanda a observação de normas, limites e o reconhecimento da autoridade dos educadores em sala de aula. Todavia, essas normas não devem ser vistas como um mecanismo de punição, mas como um meio para que o aluno perceba que as interações sociais se fundamentam em direitos e obrigações recíprocas. O principal desafio dos educadores é reconhecer os conflitos e analisar as questões de maneira ampla, incentivando discussões sobre a relevância do respeito nas relações interpessoais e os obstáculos que afetam o processo educativo em virtude da violência.
Portanto, a delimitação entre direitos e obrigações na relação entre professor e aluno é definida através de documentos que norteiam a prática educacional, como o projeto político-pedagógico e o regimento escolar. Este último, por sua vez, oferece diretrizes sobre a responsabilidade de todos os membros da comunidade escolar para fomentar a igualdade e a não-violência na instituição. No entanto, para que isso tenha um impacto efetivo, é necessário que os profissionais da escola ultrapassem a esfera teórica, assegurando que esses documentos sejam efetivamente utilizados como guia nas interações sociais, a ponto de promover a construção de uma nova cultura de paz.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração das análises nesta pesquisa foi crucial para entender de que maneira a violência nas escolas afeta as relações de ensino e aprendizagem entre professores, estudantes e familiares nas instituições de ensino. Existem diversas possibilidades de soluções que apontam para uma perspectiva de mudança, embora todas elas apontem que, a curto e médio prazos, podem se mostrar inviáveis devido à extensão e à natureza complexa da violência que se manifesta tanto na sociedade quanto nas escolas. Considerar possíveis soluções para a questão da violência implica reconhecer que a responsabilidade primária por essas ações recai sobre a própria escola, uma vez que é a responsável por implementar e coordenar as políticas de formação do indivíduo. No entanto, isso não diminui a importância da colaboração de outros participantes da comunidade escolar.
Viu-se, portanto, que violência nas escolas tem atingido níveis alarmantes nas últimas décadas, sendo entendida como o resultado da sobreposição de múltiplos fatores. Isso inclui a influência direta de problemas como a vulnerabilidade familiar e educacional dos estudantes, além de outras questões de caráter social: exclusão, falta de acesso às políticas públicas, falta de planejamento por parte das escolas etc. Muitos alunos e profissionais da educação em instituições de ensino da educação básica são vítimas de atos de violência. As evidências também indicam que esse fenômeno não é restrito a um único contexto, mas está presente tanto em escolas públicas quanto privadas, independentemente do nível de desenvolvimento social da comunidade. Não existe uma explicação definitiva sobre como a violência se origina, mas há uma dimensão multicausal que revela as suas raízes.
Em relação aos objetivos específicos da pesquisa, é possível afirmar que as análises possibilitaram a sua confirmação. Por meio do estudo analítico, evidenciou-se que a violência é um fenômeno complexo e multifacetado, apresentando particularidades distintas em diferentes contextos sociais. Também foi constatado que as diversas formas de violência, sejam elas institucionais, sociais ou simbólicas, precisam ser tratadas com prioridade pela comunidade escolar, que atua como a principal reguladora das dinâmicas pedagógicas envolvendo o processo de ensino e aprendizagem e formação cidadã. Entretanto, tais políticas requerem a colaboração e articulação de todos, inclusive por parte daqueles que estão nos espaços sociais para além dos intramuros das próprias instituições educativas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRAMOVAY, Miriam. Cotidiano das escolas: entre violências, Brasília: UNESCO, Observatório de Violência, Ministério da Educação, 2005. 404 p.
CUNHA, Josafá Moreira da et al. Compreender A Violência Escolar: Uma Revisão Rápida sobre as Características, Fatores Associados e Intervenções. SciELO Preprints, v. 1, 2023.
ESTRELA, M. T. Relação pedagógica, disciplina e indisciplina na aula. 4.
- Porto: Porto, 2002.
GAMA, V. A. Uma análise de relação entre violência escolar e proficiência no município de São Paulo. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2009.
LIMA, Doracy Gomes Pinto. Violência na escola: a concepção de professores e alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da Área Itaqui-Bacanga. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Maranhão, Curso de Mestrado em Educação, 2012.
MARTINS, Maria José. O problema da violência escolar: uma clarificação e diferenciação de vários conceitos relacionados. Universidade do Minho, Portugal. Revista Portuguesa de Educação, n. 1, 2005.
PAULO, Gleiciano Alves de. Violência sofrida por professores nas escolas públicas. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Plena em Pedagogia) – Centro de Educação, Núcleo de Educação a Distância/NEAD, Universidade Federal de Alagoas, 2022.
PINTO, Ana Maria de Almeida. Violência escolar: manifestações e alternativas de ação em uma escola municipal do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Educação, 2008.
SANTOS, Telma Aparecida da Silva. A mídia e sua relação com a violência simbólica no contexto escolar. Revista Encontro de Pesquisa em Educação, Uberaba, v. 1, n.1, 2013.
SILVA, M. J. D. da. O papel do professor frente à violência nas escolas: uma mediação necessária. Revista Eletrônica de Ciências da Educação, Campo Largo-PR, v. 3, n. 1, p. 1-16, 2004.
SILVA, Jeane Silveira Santos da et al.. A violência na escola. e a família? um estudo de caso e bibliográfico. In: VI CONEDU… Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/trabalho_ev127_md1_sa5_id3908_26092019233345.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2025.
SILVA, F. R.; ASSIS, S. G. Prevenção da violência escolar: Uma revisão da literatura. Educação e Pesquisa, 44, 2017.
SILVA, M. R. F. DA; Gonçalves, R. S. (2021). Violência Escolar: avaliação do Programa Educação para Paz nas Escolas Estaduais de Macapá/Ap. Inovação & Tecnologia Social, 3(7), 5–19, 2021.
Referencias
Share this :
Área do Conhecimento