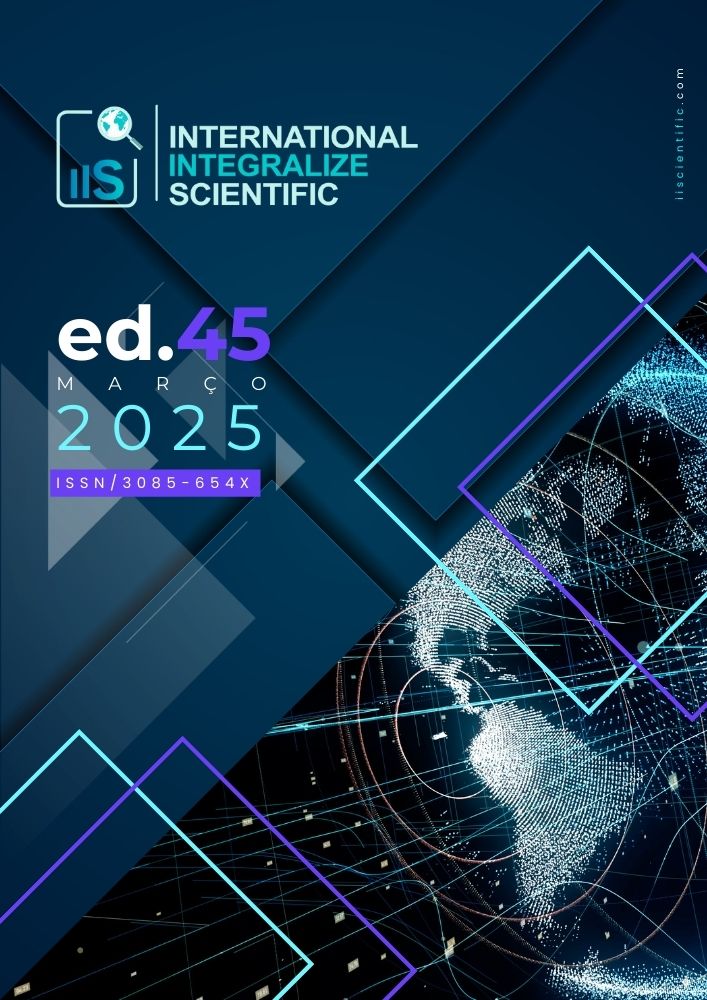Impacto da política de saúde pública na prevenção de doença
IMPACT OF PUBLIC HEALTH POLICY ON DISEASE PREVENTION
IMPACTO DE LA POLÍTICA DE SALUD PÚBLICA EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Autor
Profa. Dra. Priscila Trudes Artêro
Resumo
Summary
Resumen
INTRODUÇÃO
Muito se falava apenas do tratamento das doenças, principalmente antes da colonização dos portugueses, quando o tratamento das doenças da época era feito de forma natural com plantas e chás, sem embasamento científico. Com o passar dos anos, a saúde pública foi anexada ao Ministério da Educação, onde se tratavam as principais doenças, como a tuberculose e hanseníase, em manicômios públicos, com o objetivo de evitar que as doenças se tornassem epidêmicas e endêmicas (Oliveira, 1989).
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi definido a partir dos princípios universalistas e igualitários, com o objetivo de mudar a concepção de saúde e transformá-la em um direito de todos e dever do Estado. Incentivada pela reforma sanitária, a criação do SUS, conforme estabelecido na Constituição Federal, gerou, de fato, uma ruptura nos princípios que ordenavam a saúde até então (Menicucci, 2014).
Contudo, com o início de seu desenvolvimento, o atendimento à saúde oferecido ao usuário era restrito a ações de saneamento e combate às endemias, e garantia a assistência à saúde a trabalhadores empregados nas indústrias e não a todos os indivíduos (JÚNIOR, 2006). Somente anos depois, o Estado começou a assumir a assistência à saúde da população geral, com o objetivo de controlar doenças, e, aos poucos, foi-se instituindo a prevenção e promoção de saúde (Lucchese et al., 2004).
A promoção de saúde tornou-se o principal fator de estratégias e formas de produzir saúde, seja no âmbito individual ou coletivo, com o objetivo de atender às necessidades sociais de saúde e à melhoria da qualidade de vida (Buss, 2009).
As políticas públicas são consideradas essenciais e influenciam de forma direta ou indireta a realidade das comunidades, e contemplam diversos campos, como meio ambiente, saúde, educação, segurança, entre outros aspectos, com a finalidade primordial de garantir ao povo os direitos previstos na Constituição Federal (Secchi, 2012)
Dessa forma, analisar as políticas públicas tem grande importância para compreender a concepção de saúde construída pela sociedade brasileira, que historicamente é marcada pelo modelo curativo centrado na assistência médica. E, com as transformações produzidas por meio do conhecimento humano, tecnológico e científico, foram construídos os conceitos importantes de cuidados primários de saúde, prevenção e promoção de saúde (Sarreta, 2009).
No que diz respeito às ações preventivas em saúde, consideradas chave de ouro para o não desenvolvimento das doenças, são intervenções orientadas para evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência na população, buscando estudar os conhecimentos epidemiológicos de doenças e de outros agravos específicos (Czeresnia, 2003).
Diante do exposto, torna-se essencial o desenvolvimento de pesquisas que aprofundem a análise desse tema, bem como o conhecimento sobre as políticas públicas de saúde, diretamente relacionadas ao histórico de saúde do país e à construção do Sistema Único de Saúde (SUS). A compreensão do cenário atual, aliada à análise do contexto histórico, é fundamental para uma visão ampla e consistente do assunto, já que a realidade presente reflete os desdobramentos do passado.
Além disso, é necessário considerar como as políticas influenciam diretamente a promoção, prevenção e tratamento de doenças, impactando a qualidade de vida da população e a redução das desigualdades no acesso aos serviços de saúde. A criação e implementação de estratégias eficazes de saúde pública são determinantes para o enfrentamento de doenças crônicas e infecciosas, bem como para a garantia de um atendimento integral, humanizado e eficiente.
Dessa forma, o objetivo deste estudo é avaliar como as políticas públicas em saúde são importantes para a prevenção de doenças no mundo atual, não considerando apenas o tratamento das doenças, mas, sim, com foco na prevenção e promoção de saúde. Como objetivos secundários, tem-se o entendimento do histórico do Sistema Único de Saúde, bem como o caminho para o desenvolvimento das políticas públicas existentes atualmente.
METODOLOGIA
Será desenvolvido um estudo de revisão de literatura. A revisão integrativa tem por objetivo utilizar-se de uma metodologia capaz de propiciar conhecimentos e incorporar resultados significativos na prática.
O presente trabalho se baseia em uma revisão bibliográfica, de metodologia qualitativa, com foco no caráter subjetivo da bibliografia analisada, por uma pesquisa literária. Os procedimentos para a revisão da literatura e a construção do embasamento teórico foi dividido nas seguintes etapas:
- Escolha do tema e delimitação do tema;
- Levantamento bibliográfico preliminar;
- Elaboração do plano provisório de assunto;
- Busca das fontes;
- Leitura do material;
- Fichamento;
- Organização lógica do assunto;
- Redação final do texto.
Ressalta-se que o estudo foi delimitado com foco na temática, selecionando livros, publicações periódicas, artigos científicos, trabalhos acadêmicos, legislação, doutrinas e jurisprudências, plataformas digitais como Lilacs, Scielo, PubMed e Google Acadêmico, publicadas em diversos anos por diversos autores, seguindo as normativas de citações, e dando os devidos créditos aos autores.
HISTÓRIA DA SAÚDE NO BRASIL
Com a chegada dos portugueses às terras brasileiras, iniciou-se os desafios relacionados às enfermidades, onde a malária era a principal doença que preocupava toda a população. Além da malária, a peste bubônica, cólera e varíola foram trazidas pelos colonizadores portugueses e a febre amarela com os colonizadores africanos. Com novas enfermidades, o cenário foi se tornando preocupante, uma vez que pouco se conhecia sobre as doenças e pouco se falava sobre as formas de controle e tratamentos (Baptista, 2007).
No passar do tempo, medidas foram tomadas para que iniciassem a implementação dos modelos que buscavam cuidar das enfermidades, como as Santas Casas da Misericórdia, que eram construções civis que tinha como objetivo gerar um cuidado à saúde principalmente baseados em mão de obra escrava. Somente após a epidemia do sarampo, onde a economia colonial foi diretamente afetada, iniciou-se ações governamentais destinadas à saúde (Correa, 2004).
Dentre as primeiras ações de cuidado com a saúde pública no Brasil pode-se citar a proteção e o saneamento das cidades e controle e observação das doenças e dos doentes. Após avanços com a chegada da família real no Brasil, ocorreu mudanças no âmbito científico, onde houve avanços importantes no estudo da anatomia, descoberta do microscópio e foi criada a primeira Faculdade de Medicina de Salvador (Pôrto, 2006).
No período da Proclamação da República em 1889, houve o surgimento de uma nova organização social e o surgimento da chamada normatização médica, onde regulamentou o ensino e a prática médica, segundo o modelo europeu. A partir disso, resultou em um maior controle sobre as práticas populares de cura, substituindo os rituais religiosos por meio de direções dos hospitais gerais com o objetivo de atender doenças nocivas à população (Correa, 2004).
Entre os anos de 1902 e 1906, com Oswaldo Cruz frente às iniciativas de saneamento e urbanização, foram seguidas ações específicas para a saúde, com o objetivo de combater as epidemias. Com isso, surgiu o primeiro código Sanitário que incentivava a desinfecção inclusive domiciliar, e indicava que deveria ser notificado casos de doenças como febre amarela, varíola e peste bubônica para que fosse possível realizar a política sanitária (Baptista, 2007). Após isso, em 1923 foi realizada a reforma sanitária brasileira, com a criação do Departamento Nacional de Saúde, associado ao Ministério da Justiça (Costa Silva, et al., 2010).
Após diversos anos, sendo a saúde considerada exclusiva de indivíduos com renda alta e por meio de atendimentos privados, iniciou-se a amplificação do acesso a saúde a indivíduos trabalhadores rurais, empregadas domésticas, autônomos e outros profissionais, por meio da criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). No ano de 1953 foi criado o Ministério da Saúde e houve a reorganização dos serviços de saúde, passando a haver políticas de saúde e ampliação de estruturas como indústrias de medicamentos, equipamentos, ensino profissional, ambulatórios e hospitais (Baptista, 2007).
Em 1988, com a Constituição cidadã, foi determinado o surgimento do SUS, que foi definido como um sistema composto por um conjunto de ações e serviços de saúde, públicos e privados, contratados ou conveniados com poder público (Roncalli, 2007).
HISTÓRIA DO SUS
Após a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº8.080/90), onde era descrito as atribuições e a organização do SUS e definiu papéis institucionais de cada esfera do governo envolvidos no plano de gestão da saúde (Carvalho, BarbosA, 2010). Após isso, criou-se a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, instituindo os Conselhos de Saúde.
O SUS foi criado com o objetivo de promover universalidade e igualdade de acesso, seguindo principalmente três diretrizes: descentralização, atendimento integral e participação da sociedade. Grande é a relevância pública do SUS, uma vez que as ações e serviços de saúde passaram a ser responsáveis, regulamentadas, fiscalizadas e controladas (Souza, 2001).
De acordo com o mesmo autor, os principais avanços do SUS relacionam-se com o processo de descentralização político-administrativa, que tem progressiva transferência de responsabilidade e recursos do nível federal, para os gestores estaduais e municipais (SOUZA, 2001). Porém, após ver deficiências na regularização e aspectos relacionados com o SUS, implementou-se o Pactos pela Saúde, que foi estabelecido para responder aos desafios atuais da gestão e organização dos sistemas, dando respostas concretas às necessidades de saúde da população brasileira (Conass, 2006).
O Pacto pela Saúde de 2006 é dividido em três dimensões: pacto em defesa do SUS, pacto pela vida e pacto de gestão, sendo explicadas a seguir as principais prioridades de cada pacto, de acordo com Conass, 2006.
Pacto em Defesa do SUS tinha como prioridades:
- Elaboração e divulgação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS;
- Financiamento compatível com as necessidades de saúde por parte dos entes federados, expressos na luta pela regulamentação da EX Nº29 pelo Congresso Nacional;
- Repolitização Da discussão do SUS, em envolvimento da sociedade;
- Discutir nos conselhos municipais e estaduais as estratégias para implantação dessa dimensão no estado;
- Priorizar espaços com a sociedade civil para realizar as ações previstas.
No que diz respeito ao Pacto pela vida, as prioridades são:
- Definir prioridades levando em consideração as metas nacionais, estaduais e municipais;
- Definição de uma agenda comum, enxuta, com metas pactuadas e revisão anual;
- Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase em dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica/primária;
- Compromisso entre os gestores em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
Já o Pacto de Gestão, tinha as seguintes prioridades:
- Avançar na regionalização e descentralização do SUS, a partir da proposição de algumas diretrizes, permitindo uma diversidade operativa que respeitasse as singularidades regionais;
- Explicita as diretrizes para o sistema de financiamento público tripartite em grandes blocos de financiamento federal e estabelece relações contratuais entre os entes federativos;
- Estabelece as responsabilidades solidárias dos gestores de forma a diminuir as competências concorrentes, contribuindo para o fortalecimento da gestão compartilhada e solitária do SUS;
- Propõe a descentralização de atribuições do Ministério da Saúde para os estados e municípios, acompanhado de desburocratização dos processos normativos e reforça a territorialização da saúde como base para a organização dos sistemas, estruturando as regiões sanitárias e instituindo colegiados de gestão regional.
DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICAS
Com a reforma sanitária iniciada na década de 1970, começou-se a discutir a respeito das políticas públicas, por volta dos anos de 1986. A ampliação do conceito de saúde implica na modificação de formas de atenção, sendo que a atenção à saúde não deve ser restrita à cura e reabilitação, devendo ser considerada também nos níveis de prevenção de doenças e agravos e promoção de saúde, gerando um foco maior no âmbito de cuidado na atenção básica, com estratégias como a saúde da família e sistemas voltados à comunidade para disseminar conhecimento e gerar educação em saúde (Czeresnia, 2003).
As políticas públicas surgem relacionadas com o modelo de seguridade social, designando um conjunto de políticas públicas que têm como objetivo garantir a todos os cidadãos o direito a possuir o mínimo vital, que foi socialmente estabelecido. O Estado desempenha um papel fundamental no que diz respeito à administração e ao financiamento do sistema, onde são destinados recursos importantes para o orçamento público e para a manutenção das políticas sociais (Barros, 2003).
De acordo com o mesmo autor, as políticas de saúde pública estão englobadas no conceito de política social, onde existem ações de proteção social que compreendem relações, procedem atividades e utilizam instrumentos que visam o desenvolvimento de responsabilidades públicas, como a promoção da seguridade social e do bem-estar. Diante disso, as políticas sociais englobam as áreas da saúde, previdência e assistência social, além de atingir áreas como a educação e a habitação. Com isso, o objetivo é garantir a proteção coletiva contra riscos específicos e assumir papéis singulares a respeito da proteção coletiva quanto à elaboração e organização de técnicas e estratégias.
Esse conceito, de acordo com o autor George Rosen (1994), relaciona-se com a consciência desenvolvida por parte da comunidade, englobando sua importância no que diz respeito à prevenção, promoção e tratamento de doenças. Com o desenvolvimento dos determinantes sociais de saúde, reconhece-se a importância de direcionar as necessidades em múltiplas frentes, envolvendo múltiplos domínios e não somente os aspectos de desigualdade e igualdade socioeconômica. O objetivo é que as políticas públicas realizem progresso simultâneo em diferentes frentes, incluindo distintas instituições que reforçam umas às outras, gerando uma abordagem integrada e multifacetada (Rabello, 2010).
No que diz respeito à construção de políticas de saúde como política social, diversos são os fatores que envolvem essa situação, como fatores sociais, políticos, econômicos, ideológicos, técnicos, teóricos, estratégicos, culturais, entre outros. Alguns critérios devem ser pensados antes da construção de uma gestão de saúde pública, sendo eles, de acordo com Mendes e Marques (2009):
- Construção e emprego de estratégias, instrumentos e técnicas que são capazes de analisar e monitorar condições sociais da existência da população e desenhar estratégias, metas e planos;
- Definir objetivos e finalidades da política, levando em consideração os aspectos contra riscos sociais, promoção e bem-estar dos indivíduos, reduzindo as enfermidades e melhorando a qualidade de vida dos indivíduos;
- Construção oficial de arenas, canais e rotinas para orientar os processos que envolvem as estratégias e os planos de ação da política;
- Desenvolvimento, reprodução e transformações de marcos institucionais que representam o resultado de referências valorativos, políticos e organizacionais que permeiam e sustentam a política;
- Desempenho simultâneo de papeis políticos e econômicos diferentes, produzindo efeitos em diversas relações sociais, levando a igualdade, legitimação das políticas de grupo governamentais e manutenção da dinâmica econômica;
- Assimilação, contraposição e compatibilização de diferentes projetos sociais provenientes dos mais diversos atores presentes na cena política do país
Como forma complementar às políticas de saúde, a vigilância em Saúde é definida como um processo contínuo e sistemático de consolidação, coleta e análise de dados e de disseminação de informações sobre os eventos relacionados à saúde, visando um planejamento e implementação de medidas de saúde pública, incluindo intervenções, regulação e atuação em condicionantes e determinantes de saúde. (Conselho Nacional De Saúde, 2018).
De acordo com o documento Brasil (2006), as políticas públicas podem ser compreendidas como estratégias de biopoder que visam o bem-estar e controle da população, bem como seu desenvolvimento e prosperidade, que envolvem aspectos de forma individual e coletiva. E deve ser sempre associada de indicadores, tanto demográficos quanto socioeconômicos, que são dados que indicam os índices de saúde da população e que vem aumentando de forma constante.
De acordo com os autores Silva (2008), as políticas públicas se caracterizam como forma de regulação ou intervenção na sociedade, estruturando-se e concretizando-se como de interesse social organizados que se mostram através de movimentos planejados, simultâneos e interdependentes, que são constituídos de ações em forma de respostas a questões problemáticas da sociedade.
IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICAS
A prevenção é entendida como a ação antecipada que impede o desenvolvimento e manifestação das doenças, baseada em análises de risco e de vulnerabilidade, por meio de exames, estudos epidemiológicos e mapeamento da população daquela região. Além disso, a prevenção é realizada no âmbito da vigilância em saúde, com o intuito de perceber as enfermidades o mais rápido possível, para que sejam realizados procedimentos que impeçam os agravos e evitem a transmissão, o que pode levar ao desenvolvimento de uma epidemia (CZERESNIA, 2003).
Em suma, de acordo com o mesmo autor, entende-se como prevenção as ações educativas, como campanhas de conscientização, com o objetivo de promover mudanças de hábitos cotidianos, por meio de recomendações normativas que previnem o desenvolvimento de doenças, principalmente as contagiosas, que passam de indivíduo para indivíduo ou por meio de fatores externos, como as doenças provenientes de condições inadequadas de tratamento de água e outros aspectos voltados ao meio ambiente.
Dessa forma, a criação de políticas de saúde pública busca impulsionar e fomentar o aumento dos potenciais e cuidados em saúde, não se dirigindo a uma doença específica, mas sim a uma multiplicidade de fatores que são considerados condicionantes de saúde (Caponi, 2003).
Classificadas de maneiras distintas, as políticas públicas podem ser: regulatórias, distributivas, redistributivas e constitutivas. As políticas regulatórias são aquelas que determinam os modelos da performance, produto ou serviço para os agentes públicos e privados. As políticas distributivas são centralizadas para determinados grupos que geram efeitos coletivos, porém têm como grande desafio a demarcação do grupo beneficiário (Cirino, Almeida).
As políticas redistributivas são aquelas que concedem benefícios concentrados a certas classes, mas que geram gastos sobre outro público também, uma vez que não são destinadas a indivíduos específicos que envolvem os aspectos de renda, propriedade, número de pessoas na família, mas sim por meio do interesse da política. E, por fim, as políticas que caracterizam as competências, jurisdições e regras, sendo definidas como meta-políticas, uma vez que a dinâmica política molda os ambientes (Cirino, Almeida).
A Política Nacional de Saúde teve como objetivo fundamentar aspectos como, de acordo com Bravo:
- Defesa da Seguridade Social;
- Defesa Intransigente dos princípios e diretrizes do SUS: sendo eles a universalidade, integralidade, participação social e descentralização;
- Definição de uma Política Nacional de desenvolvimento: que tem como objetivo garantir a redistribuição de renda de cunho social;
- Avanço no desenvolvimento de uma política de recursos humanos em saúde: com o objetivo de eliminar os vínculos precários;
- Retomada dos princípios que regem o Orçamento da Seguridade social;
- Cumprimento da deliberação do Conselho Nacional de Saúde: que se dispõe de forma contrária à terceirização da gerência e gestão de serviços no setor da saúde.
IMPACTO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS
A organização Mundial de Saúde (OMS), adotou o conceito de saúde ampliada, que vai além da abordagem centrada na doença e, com isso, incorporou a perspectiva de analisar diversos outros fatores. Após isso, iniciou-se com mais frequência as avaliações de impacto das políticas públicas e dos programas que buscam melhorar os aspectos de saúde. Diante disso, atribuiu-se as avaliar com o objetivo de controlar e verificar as intervenções e mudanças registradas na saúde da população, envolvendo os aspectos culturais, ambientais, socioeconômicos, entre outros. (Scliar, 2007).
Porém, algumas lacunas no Sistema Único de Saúde resultaram em frequentes desigualdades sociais e regionais, diminuindo o acesso à saúde nas regiões de indivíduos mais pobres e para os grupos socioeconomicamente mais desfavorecidos. E, com isso, buscou-se novas soluções e ampliação destes conceitos de sistema único, universal de saúde (Hone e TascA, 2018).
As políticas de proteção social direcionadas às populações mais vulneráveis, particularmente as de transferência de renda, têm sido alvo de muita investigação devido à sua capacidade de atuar rapidamente na melhoria da redução da pobreza e nas condições de vida em geral (Miranda, 2021). No Brasil, a principal abordagem que é avaliada voltada aos programas de saúde é o Programa Saúde da Família (PSF), principalmente mostrando resultados no âmbito da saúde infantil e nas doenças cardiovasculares e cerebrovasculares (Rasella et al., 2014).
De acordo com o autor Braga e Paula (1986), as principais alternativas adotadas para o âmbito da saúde pública foram:
- Reorganização do Departamento Nacional de Saúde, no ano de 1941, no qual incorporou vários serviços de combate a endemias e assumiu o controle da formação de profissionais em saúde pública;
- Ênfase nas campanhas sanitárias;
- Criação de serviços de combate a endemias, como a Febre Amarela em 1937, e a Malária em 1939;
- Coordenação dos serviços estaduais de saúde dos estados por meio do Departamento Nacional de Saúde;
- Interiorização das ações para as áreas de endemias rurais, a partir de 1937, em decorrência dos fluxos migratórios de mão-de-obra para as crianças.
Analisando as políticas públicas de saúde em sua perspectiva, considera-se que historicamente elas são marcadas pelo modelo curativo centrado na assistência médica e nas especialidades, normalmente tratadas no hospital. Com o passar do tempo, verificou-se que a forma mais eficaz seria baseada na prevenção e promoção da saúde, para garantir, de fato, uma melhora na diminuição do número de doenças (Sarreta, 2009).
Diante das mudanças na saúde, as políticas públicas, consideradas um tema recente, têm suas práticas ainda em processo de construção e desenvolvimento. Contudo, apesar de recentes, os avanços já são considerados notórios em diversas esferas, gerando um maior cuidado com a saúde da população (Santos, 2018).
No que diz respeito às políticas públicas voltadas à prevenção e controle do câncer, a prevenção pode ser primária ou secundária. A prevenção primária são atitudes que antecedem o desenvolvimento da doença, reduzindo a exposição dos indivíduos a fatores de risco, como, por exemplo, campanhas contra o tabagismo, orientação sobre alimentação saudável, medidas de prevenção de exposição a raios solares, vacinações, realização frequente de exames específicos, entre outros. A prevenção secundária baseia-se no rastreamento dos indivíduos assintomáticos (Cestari, Zago, 2005).
Como atitudes de prevenção primária contra o câncer, alguns exames são indicados como forma de política em saúde pública, sendo eles: Papanicolau, citopatologia cervical, vacinação contra o papilomavírus humano, entre outros. Para a prevenção secundária, as políticas públicas adotadas, por exemplo, são a Detecção Precoce do Câncer de Mama, que tem como objetivo rastrear a população feminina realizando mamografia para diagnóstico precoce (Carvalho, Assis E Pires, 2017).
As políticas públicas em saúde também podem ser desenvolvidas com o objetivo de atingir um público específico e prevenir as doenças associadas a esse público, como, por exemplo, o Programa Saúde do Adolescente, que tem como objetivo melhorar a atenção prestada aos adolescentes, englobando o âmbito biológico, psicológico e social. Dentro da política pública em saúde voltada aos adolescentes, busca-se focar nos aspectos de saúde bucal, sexualidade, saúde reprodutiva, saúde mental, crescimento e desenvolvimento, prevenção de acidentes, prevenção de violência e maus-tratos, entre outros (Santos et al., 2016).
No período da pandemia, diversas foram as políticas públicas adotadas no setor da saúde para combater a COVID-19, como a mudança de pacientes entre unidades hospitalares, criação de novos hospitais e campanhas para o atendimento de pacientes contaminados. Foram criadas políticas como: medidas de higiene, uso de equipamentos de proteção individual, materiais adequados para limpeza e desinfecção, distanciamento social, isolamento social, quarentena e lockdown (Almeida, Almeida Júnior, 2021).
Outra doença tratada por meio das políticas públicas em saúde é a disfagia orofaríngea, que não é considerada uma doença isolada e normalmente está associada a outra doença principal. O indivíduo portador pode sofrer complicações como desnutrição, desidratação, infecções pulmonares e até mesmo vir a óbito (Luchesi, Campos, Mituuti, 2018). Diante da diversidade de doenças que podem levar ao desenvolvimento da disfagia orofaríngea, é de extrema importância os cuidados e a prevenção, bem como a prevalência e incidência, e os fatores de risco que podem auxiliar os pesquisadores e as equipes de saúde no controle da doença (Pernambuco, Magalhães, 2014).
No que diz respeito às políticas públicas em saúde para o manejo dos pacientes HIV positivo e AIDS, elas são de extrema importância para gerar uma abordagem familiar e comunitária, com o auxílio da Estratégia da Saúde da Família e a Visita Domiciliar. Neste caso, o atendimento assistencial é voltado para o atendimento educativo e para entender o processo de adoecimento dos usuários, bem como sua dinâmica familiar. Com isso, a equipe consegue analisar os condicionantes e determinantes do processo, bem como o contexto social que a família está inserida (Borges et al., 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, observou-se que as políticas públicas em saúde são consideradas essenciais para a prevenção da doença, uma vez que impedem o desenvolvimento da doença de forma mais ampla, coletiva e com custo menor, sem gerar danos ao paciente e sem que sejam necessárias medidas mais invasivas.
Considerando a relevância das políticas públicas de saúde na prevenção, promoção e tratamento de doenças, percebe-se a importância de uma análise cuidadosa desse assunto para o fortalecimento e a melhoria contínua do Sistema Único de Saúde (SUS). Entender como essas ações influenciam a qualidade de vida da população e garantem um acesso mais justo e igualitário aos serviços de saúde é essencial para identificar desafios e propor soluções que tornem o atendimento mais eficiente e humanizado.
Assim, incentivar pesquisas nessa área contribui tanto para o aprimoramento do sistema quanto para a formação de profissionais engajados na construção de uma saúde pública mais acessível e de qualidade. Por meio desse olhar crítico e construtivo, é possível avançar na elaboração de políticas mais adequadas, capazes de atender de forma eficaz às necessidades reais da população.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, W.C.; ALMEIDA JÚNIOR, W.C. As políticas públicas de segurança na pandemia causada pela COVID-19. Revista Direitos Culturais, Santo Ângelo, v. 16, n. 39, p. 131-141, Maio/Ago, 2021.
BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. História das Políticas de Saúde no Brasil: a trajetória do direito à saúde (capítulo 1 do livro: Políticas de saúde: a organização e a operacionalização do SUS). FIOCRUZ e Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 2007.
BARROS, E. Financiamento do Sistema de Saúde no Brasil: marco legal e comportamento do gasto. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2003.
BRAGA, J.C.S.; PAULA, S.G. Saúde e Previdência. Estudos de Política Social. São Paulo: HUCITEC, 1986.
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília- DF. 2006.
BRAVO, M.I.S. Política de Saúde no Brasil. [s/d].
BORGES, F.R. et al. Ensino sobre visita domiciliar a estudantes universitários. Rev Rene, v. 18, n. 1, p. 129-138, 2017.
BUSS, P.M.; CARVALHO, A.I. Desenvolvimento da promoção da saúde no Brasil nos últimos vinte anos (1988-2008). Cien Saude Colet, 2009.
CARVALHO, Lusanir de Sousa; ASSIS, Simone Gonçalves de; PIRES, Thiago de Oliveira. Violência sexual em distintas esferas relacionais na vida de adolescentes. Rev. Adolesc. Saúde (Online), p. 14-21, 2017.
CAPONI, S. A saúde como abertura ao risco. Em: Czeresnia, D. Promoção de saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.
CESTARI, M.E.W.; ZAGO, M.M.F. A prevenção do câncer e a promoção da saúde: um desafio para o Século XXI. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 58, n. 2, Brasília, Mar./Apr., 2005.
CIRINO, V.V.; ALMEIDA, V.T. de. A importância das políticas públicas na saúde em tempo de pandemia no Brasil. Unipace: Escola Superior do Parlamento Cearense. [s/d].
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução nº 588, de 12 de junho de 2018. Institui a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS). Brasília, DF: CNS, 2018.
CZERESNIA, D. O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção. In: Czeresnia, D. Promoção de saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.
CONASS. SUS: avanços e desafios. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília: CONASS, 2006.
CORREA, Carlos Roberto Silveira; RANGEL, Humberto de Araújo; SPERANDIO, Ana Maria Girotti. Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil. (capítulo 4 do livro: Campinas no rumo das comunidades saudáveis). IPES Editorial, 2004.
COSTA e SILVA, Cristiane Maria; MENEGHIM, Marcelo de Castro; PEREIRA, Antônio Carlos; MIALHE, Fábio Luiz. Educação em saúde: uma reflexão histórica de suas práticas. Rio de Janeiro, Revista Ciência e Saúde Coletiva, vol. 15, n. 5, p. 2539-2550, agosto 2010.
HONE, Thomas; TASCA, Renato. Cenários do financiamento público em saúde. Relatório 30 anos de SUS, que SUS para 2030?, p. 65.
JÚNIOR, Aylton Paulus; JÚNIOR, Luiz Cordoni. Políticas públicas de saúde no Brasil. Revista Espaço para a Saúde, Londrina, v. 8, n. 1, p. 13-19, 2006.
LUCHESI, KF; CAMPOS, BM; MITUUTI, CT. Identification of swallowing disorders: the perception of patients with neurodegenerative diseases. CoDAS 2018.
LUCCHESE, Patrícia TR et al. Políticas públicas em saúde pública. São Paulo: Bireme/OPAS/OMS, v. 90, 2004.
MENICUCCI, Telma Maria Gonçalves. História da reforma sanitária brasileira e do Sistema Único de Saúde: mudanças, continuidades e a agenda atual. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.21, n.1, jan.-mar. 2014.
MIRANDA, S. S. et al. (org.). Construção de conhecimento no curso da pandemia de COVID-19: aspectos biomédicos, clínico-assistenciais, epidemiológicos e sociais. Salvador: Edufba, 2021. p. 1-29. v. 2.
MENDES, A. & MARQUES, R. A saúde pública sob a batuta da nova ordem. In: MARQUES, R. & FERREIRA, M. (Orgs.) O Brasil sob a Nova Ordem: a economia brasileira contemporânea – uma análise dos governos Collor a Lula. São Paulo: Saraiva, 2009.
OLIVEIRA, J.A e TEIXEIRA, J.M. (IM) Previdência Social – 60 anos de história da Previdência no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1989.
PERNAMBUCO, LA; MAGALHÃES JÚNIOR. Aspectos Epidemiológicos da Disfagia Orofaríngea. IN.: MARCHESAN, IQ; JUSTINO, H; TOMÉ, MC. Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
PÔRTO, Ângela. O sistema de saúde escravo no Brasil do século XIX: doenças, instituições e práticas terapêuticas. Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, p. 1019-27, Outubro-Dezembro. 2006.
RABELLO, LS. Promoção da saúde: a construção social de um conceito em perspectiva do SUS. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010.
RASELLA, D. et al. Impact of primary health care on mortality from heart and cerebrovascular diseases in Brazil: a nationwide analysis of longitudinal data. British Medical Journal, n. 348, p. 1-10, 2014.
RONCALLI, A. G. O desenvolvimento das políticas públicas de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde. In: Pereira AC, organizador. Odontologia em saúde bucal coletiva: planejando ações e promovendo saúde. Porto Alegre: Artmed; 2003.
SANTOS, Nelson Rodrigues dos. SUS 30 anos: o início, a caminhada e o rumo. Ciência & Saúde Coletiva, v. 23, p. 1729-1736, 2018.
SARRETA, FO. Educação permanente em saúde para os trabalhadores do SUS [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.
SCLIAR, M. História do conceito de saúde. Physis: Revista Saúde Coletiva, v. 17, n. 1, p. 29-41, 2007.
SILVA, M.O.S. Avaliação de políticas e programas sociais: uma reflexão sobre o conteúdo teórico e metodológico da pesquisa avaliativa. Pesquisa avaliativa: aspectos teórico-metodológicos. São Paulo: Veras Editora; São Luiz, MA: GAEPP, 2008.
SECCHI, L. Políticas Públicas: Conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
SILVA, M.O.S. Avaliação de políticas e programas sociais: uma reflexão sobre o conteúdo teórico e metodológico da pesquisa avaliativa. Pesquisa avaliativa: aspectos teórico-metodológicos. São Paulo: Veras Editora; São Luiz, MA: GAEPP, 2008.
SECCHI, L. Políticas Públicas: Conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
SOUZA, R.R.de. A regionalização no contexto atual das políticas de saúde. Ciência e Saúde Coletiva 6(2): 451-455, 2001.
Referencias
Share this :
Área do Conhecimento