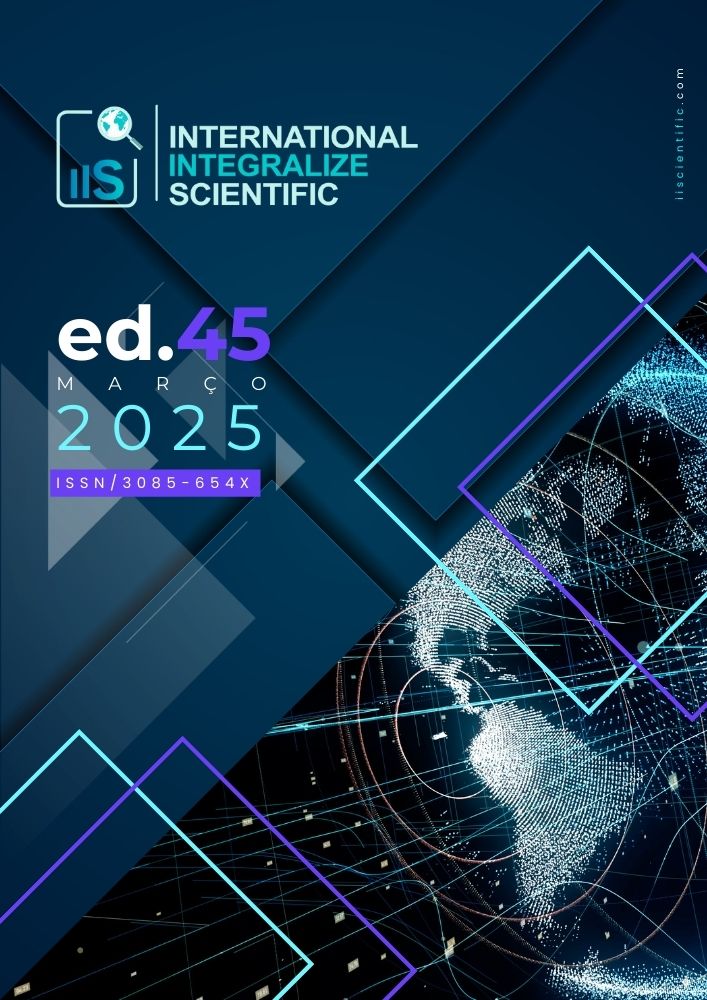Zumbi dos Palmares: uma narrativa histórica na contemporaneidade
ZUMBI DOS PALMARES: A HISTORICAL NARRATIVE IN CONTEMPORANEITY
ZUMBI DOS PALMARES: UNA NARRATIVA HISTÓRICA EN LA CONTEMPORANEIDAD
Autor
Prof. Dr. Alcenir Seixas dos Santos
Resumo
Summary
Resumen
INTRODUÇÃO
A construção deste artigo busca a efetivação de novos conhecimentos acerca de temáticas históricas que, em geral, não são abordadas de forma integral ou eficaz durante o ano letivo, promovendo assim uma visão mais ampla e global da realidade, atenta à reflexão crítica e aos questionamentos do presente. O tema central gira em torno da narrativa histórica de Zumbi dos Palmares e do Quilombo dos Palmares, destacando-se como um campo fértil para investigações que perpassam tanto o contexto histórico quanto as ressignificações contemporâneas. A partir desse enfoque, o artigo procura refletir sobre as múltiplas visões e percepções atribuídas a Zumbi ao longo da História, evidenciando como sua imagem foi construída, desconstruída e ressignificada em diferentes momentos e contextos sociopolíticos.
O assunto tratado delimita-se na análise da trajetória de Zumbi dos Palmares, não apenas como um líder quilombola, mas como um símbolo de resistência, liberdade e identidade afro-brasileira. O problema central da pesquisa reside na relevância e complexidade das representações de Zumbi, que variam desde a figura de um sublevado vilão no Brasil colônia até a de um herói popular e ícone da luta contra a opressão. Trata-se de um problema ainda em aberto, visto que a narrativa sobre Zumbi continua a ser ressignificada, refletindo as tensões sociais e raciais do Brasil contemporâneo.
A problematização se desenvolve a partir das seguintes perguntas norteadoras: Como a imagem de Zumbi dos Palmares foi construída ao longo da História e quais fatores contribuíram para suas diversas interpretações? De que maneira o contexto político e social brasileiro influenciou a ressignificação de Zumbi, especialmente durante o regime militar e na contemporaneidade? Qual o papel do Quilombo dos Palmares na construção da memória e da identidade afro-brasileira no Brasil atual?
A justificativa para a escolha deste tema reside em sua relevância para o entendimento da História do Brasil sob uma perspectiva crítica e inclusiva, valorizando a cultura afro-brasileira e afrodescendente, frequentemente marginalizada nos currículos escolares. A complexidade do estudo está na análise interdisciplinar que conecta História, Sociologia e Estudos Culturais para compreender as múltiplas camadas da narrativa sobre Zumbi. Sua aplicabilidade estende-se ao campo da educação, contribuindo para práticas pedagógicas mais inclusivas, e ao debate público sobre memória, identidade e resistência. O diferencial deste trabalho em relação a estudos similares está na abordagem crítica da ressignificação da imagem de Zumbi ao longo do tempo, especialmente considerando o contexto da ditadura militar e sua ausência nos livros didáticos tradicionais. A motivação para o estudo surge da necessidade de preencher lacunas historiográficas e fomentar uma reflexão crítica sobre o papel da resistência negra na construção da sociedade brasileira.
O objetivo geral deste artigo é analisar a construção e ressignificação da narrativa histórica de Zumbi dos Palmares na contemporaneidade, compreendendo seu impacto na memória coletiva e na identidade afro-brasileira. Como objetivos específicos, busca-se: investigar as diferentes interpretações sobre Zumbi ao longo da História; compreender o papel do Quilombo dos Palmares como símbolo de resistência; e analisar o uso da imagem de Zumbi em contextos políticos contemporâneos, especialmente no período da ditadura militar e na atualidade, como símbolo do Dia da Consciência Negra.
Este estudo visa contribuir para uma compreensão mais crítica da História do Brasil, servindo como um instrumento para a desconstrução de estereótipos e o fortalecimento da consciência histórica e social. O funcionamento da pesquisa baseia-se em uma análise bibliográfica de autores e obras relevantes, como Joel Rufino dos Santos, Flávio dos Santos Gomes, Selma Vasconcelos, Eduardo d’Amorim, Marina de Melo e Souza, Jaime Pinsky, Pedro Paulo Funari e Aline Vieira de Carvalho, que discutem tanto fatos históricos quanto aspectos culturais afro-brasileiros sob diversas perspectivas. Estudos de casos de sucesso incluem a revalorização da figura de Zumbi em movimentos sociais e educativos, enquanto pontos negativos a serem considerados incluem a persistência de narrativas excludentes nos materiais didáticos e a resistência de parte da sociedade em reconhecer a importância da cultura afrodescendente na formação da identidade nacional.
A FORMAÇÃO DE UMA CULTURA NEGRA NO BRASIL
Castells (1999) salienta que o ser humano é inerente à cultura e, por meio dela, constrói a sua identidade. Essa cultura vai se formando nas relações e experiências que mantém com o mundo desde que nasce, e suas características e especificidades perpassam tempo e espaço, atingindo assim a posteridade. É exatamente essa questão crucial de cultura e identidade que se objetiva abordar na análise das várias nuances de Zumbi e do Quilombo dos Palmares ao longo da historiografia; temática absolutamente importante para o estudo da resistência escrava e negra no Brasil. No entanto, ainda há lacunas significativas na literatura sobre a formação da identidade afro-brasileira e sobre como os processos históricos impactaram a preservação de suas tradições culturais. Dessa forma, torna-se fundamental aprofundar as investigações acerca dos mecanismos que possibilitaram a manutenção dessas identidades ao longo dos séculos, bem como os desafios enfrentados por essas comunidades na contemporaneidade.
D’ Amorim (1997) afirma que a África, apesar de ser uma mãe quase desconhecida, é vista como matriz da formação do povo brasileiro, da economia, da cultura e da história do Brasil. No entanto, a escassez de estudos aprofundados sobre a contribuição africana na composição dos costumes brasileiros demonstra a necessidade de ampliar as pesquisas sobre essa matriz cultural, buscando compreender sua influência em diferentes regiões e contextos. É imprescindível analisar de forma detalhada a participação africana não apenas na cultura popular, mas também nas estruturas econômicas e sociais do Brasil, identificando os impactos dessa herança na constituição da identidade nacional. Além disso, é essencial dar maior visibilidade às narrativas dos próprios descendentes africanos, que por vezes são marginalizadas nos discursos históricos oficiais.
Nada mais justo se, em nossa reflexão, focássemos a cultura afrodescendente e afro-brasileira, uma das grandes responsáveis pela construção da nossa própria cultura, apesar de sofrer com o preconceito, a rejeição e a subserviência de uma sociedade branca. Segundo Rufino (2006), um dos principais motivos que levaram esse patrimônio africano e afrodescendente à posteridade foi, sobretudo, a resistência, direta ou não, em vários locais e em várias épocas. Se não fosse por essa resistência, todos os negros haveriam negado a sua cor, a sua cultura e até mesmo as próprias almas, por meio da imposição de uma cultura dita superior que fazia de tudo para apagar resquícios da identidade negra africana nos indivíduos escravizados. Entretanto, ainda são necessárias pesquisas que detalhem os mecanismos de resistência e preservação dessas identidades, especialmente no período pós-abolição, quando os desafios da marginalização social se intensificaram. O estudo dessas resistências permite compreender de que forma os descendentes africanos conseguiram, mesmo diante de tantas adversidades, manter vivas suas tradições e criar novas formas de expressão cultural.
Os africanos passaram por um longo processo de sofrimento, diáspora e segregação, entre os séculos XVI e XIX, que possibilitou ao nosso país, dentre outros fatores, as bases do desenvolvimento econômico. Desenvolvimento este, construído pelas mãos suadas e calejadas dos negros africanos e de seu sangue derramado, sem falar do preconceito marcado em sua pele, como uma tatuagem permanente, à desonra, à desgraça, aos castigos e à falta muitas vezes de esperança que os levavam ao suicídio, e quando menos à fuga. A carência de estudos sobre as experiências psicológicas e sociais dos africanos escravizados e seus descendentes no Brasil é uma lacuna que precisa ser preenchida para um entendimento mais amplo dos impactos da escravidão até os dias atuais. Além disso, a exclusão dos negros dos processos de cidadania e desenvolvimento social demonstra a permanência de desigualdades estruturais herdadas desse período, reforçando a necessidade de um olhar mais crítico e aprofundado sobre o tema.
Souza (2007) declara que os filhos da mãe África, marginalizados e estigmatizados pelos brancos que se denominavam superiores e dominadores, buscavam uma vida, uma liberdade, o mais próximo daquela que deixaram na África, ou no mínimo o mais longe daquela que deixaram nas fazendas, nos engenhos, marcada pela hipocrisia, a crueldade e o racismo. Dessa forma, torna-se imprescindível ampliar os estudos sobre os impactos dessas práticas discriminatórias ao longo do tempo e como elas ainda reverberam na sociedade contemporânea, reforçando a importância de pesquisas que deem voz às histórias dos descendentes africanos e seus processos de resiliência e luta por reconhecimento. Também se faz necessário compreender como os movimentos negros têm lutado para reverter essas desigualdades e reivindicar políticas públicas que promovam equidade racial e inclusão social, garantindo que a identidade afro-brasileira seja valorizada e respeitada em todas as esferas da sociedade.
ZUMBI E A RESISTÊNCIA ESCRAVA
Em todos os lugares e diferentes épocas em que ocorreu escravidão, houve resistência, e no Brasil não foi diferente. A resistência dos africanos escravizados no Brasil se manifestou de diversas formas, demonstrando não apenas a busca pela liberdade, mas também a reafirmação de suas identidades culturais e a luta contra um sistema desumano e opressor. No entanto, apesar da importância dessa temática, ainda há lacunas significativas na historiografia brasileira, especialmente no que diz respeito ao protagonismo negro e à reconstrução das narrativas sob uma perspectiva que valorize os sujeitos históricos escravizados e suas estratégias de resistência.
Para Pinsky:
A escravidão se caracteriza pela sujeição de um homem pelo outro, de forma completa: não apenas o escravo é propriedade do senhor, como sua vontade está sujeita a autoridade do dono e seu trabalho pode ser obtido pela força (PINSKY, 1994, p. 13)
Por esse motivo, as formas de resistência foram as mais variadas possíveis, entre elas destacam-se a quebra de ferramentas de trabalho, incêndio dos canaviais, fugas, corpo mole no trabalho e, por fim, a formação de quilombos. Entretanto, a literatura sobre a escravidão e a resistência negra, por vezes, ainda carece de uma abordagem mais ampla que contemple as dinâmicas internas desses espaços de refúgio e organização política, social e econômica. É fundamental aprofundar as análises sobre como os quilombos funcionavam, quais eram suas relações com os povos indígenas e como conseguiram se manter por tanto tempo, mesmo sob constante ameaça.
Rufino (2006) expõe com essência o contexto histórico da formação do Quilombo dos Palmares; comenta sobre aspectos econômicos, políticos e sociais, fora e dentro dos quilombos, o mundo escravista e o mundo do açúcar. Rufino (2006) ressalta com clareza a localização da incrível fortaleza quilombola, a qual chamavam de Angola Janga ou Angola Pequena. Apesar das importantes contribuições dessa obra, há uma necessidade crescente de novas pesquisas que ampliem a compreensão sobre a complexidade social dos quilombos, explorando com mais profundidade o cotidiano dos quilombolas, suas hierarquias internas e seus mecanismos de autogestão.
Essa admirável obra proporciona um leque de possibilidades e detalhes acerca da vida e do cotidiano dos palmaristas. Além disso, Rufino (2006) narra as sucessivas expedições que objetivavam a destruição do quilombo, tanto no período de dominação lusitana, quanto no período da turbulenta invasão e tomada holandesa no nordeste da colônia, até a última delas, organizada pelo ferrenho bandeirante Domingos Jorge Velho, que resultou na derrocada de Palmares. No entanto, pouco se discute sobre a resistência cultural dentro desses quilombos, bem como sobre a permanência dessas tradições ao longo dos séculos, influenciando as comunidades quilombolas contemporâneas.
Com relação à invasão holandesa, Vasconcelos (1995, p. 29-30) afirma que “os holandeses investiram contra Palmares diversas vezes”. No entanto, ao passo em que os lusitanos e colonos lutavam contra os invasores, o imponente quilombo era agraciado por um período de estabilidade, desenvolvimento e expansão. Após a expulsão dos invasivos europeus, os olhares se voltaram para o local que os portugueses acreditavam ser a principal doença do Brasil naquela época, o Quilombo dos Palmares. Apesar do reconhecimento da importância histórica desse evento, os impactos da invasão holandesa sobre as populações quilombolas ainda são pouco explorados na historiografia tradicional, o que justifica a necessidade de mais investigações sobre as estratégias de adaptação dos quilombolas durante esse período conturbado.
Na obra Zumbi, Rufino (2006) narra de maneira detalhada a trajetória do mais famoso líder dos Palmares em um modelo heroico e arraigado de detalhes. Rufino (2006) ainda elabora essa biografia utilizando-se de uma versão pertinente à mais popular sobre esse herói negro, ressaltando o seu intento de lutar com todas as forças contra o sistema vigente de sua época. E se questiona sobre o uso da mão de obra negra para o trabalho escravo nas Américas e suas contribuições para o enriquecimento da sociedade dominante da época. Dessa forma, Rufino (2006) ratifica esse posicionamento apontando que:
Era certo que o europeu, ao colonizar a América, precisava de braços fortes e aptos para o trabalho braçal no cultivo do açúcar, porém, por que o trabalho escravo? (…) O escravo servia como moeda de troca, assim como produzia no mundo do açúcar a fabulosa massa de artigos tropicais que se pôs à venda na Europa durante três séculos, enriquecendo as classes dominantes de lá e de cá (Rufino, 2006, p. 16).
Com esta afirmação, Rufino (2006) mostra-se explicitamente um paladino defensor da cultura afro-brasileira e da afirmação de Zumbi como herói nacional. No entanto, apesar da relevância da obra de Rufino para a valorização da resistência negra, ainda há debates acadêmicos sobre as múltiplas perspectivas que envolvem a figura de Zumbi. Alguns estudos mais recentes argumentam que a história de Zumbi pode ter sido romantizada ao longo do tempo, omitindo possíveis contradições e complexidades de sua liderança.
Portanto, justifica-se a necessidade de novas investigações que não apenas reafirmem a importância de Palmares e de Zumbi na resistência à escravidão, mas que também ampliem o conhecimento sobre a diversidade de experiências dentro dos quilombos, explorando suas relações internas, suas estratégias de sobrevivência e sua influência na luta por direitos da população afrodescendente no Brasil contemporâneo. A história da resistência negra ainda possui muitas lacunas a serem preenchidas, e um olhar mais aprofundado sobre essas questões pode contribuir para uma compreensão mais ampla da herança cultural e política dos quilombolas.
ZUMBI, PALMARES, COMEÇO, MEIO E FIM
A narrativa histórica desse importante líder negro encontra-se atrelada ao início da formação do próprio Quilombo dos Palmares na Serra da Barriga, Alagoas. De acordo com Rufino (2006, p. 11), “tem início com a fuga de quarenta escravos de um engenho no sul de Pernambuco, no ano de 1597”. Por meio deles, o autor explica a consequente formação de Palmares, o maior e mais resistente quilombo do Brasil. No entanto, apesar da riqueza de informações já consolidadas sobre Palmares, ainda existem lacunas importantes na historiografia que demandam um aprofundamento maior sobre as dinâmicas internas da organização do quilombo, sua estrutura social e o papel das mulheres na resistência.
Para Gomes (2011, p. 13), “A Serra da Barriga, (…) logo se transformou em um lugar de refúgio, existindo não só um mocambo, mas dezenas deles.” Além disso, o grandioso quilombo, com suas construções de aldeamentos ao longo da serra, concentrava-se numa extensão que podia ir do Rio São Francisco ao Cabo de Santo Agostinho. A complexidade dessa rede de aldeamentos reforça a necessidade de novas pesquisas que busquem compreender como a estrutura administrativa de Palmares funcionava, quais eram os mecanismos de governança utilizados por seus líderes e de que forma os quilombolas garantiam a subsistência e a defesa de seu território.
Rufino (2006, p. 11) baseou a sua obra essencialmente no livro de Décio Freitas, que narra a trajetória do Quilombo dos Palmares como, aliás, ele diz: “deve acontecer com qualquer outro que trate desse tema”. Dessa forma, como o livro é uma biografia, o autor buscou tratar da história desse guerreiro negro com o máximo de detalhes possível, desde o nascimento em 1655 até sua captura por Brás da Rocha, que o entregou a um certo Padre Melo de Porto Calvo. A sua trajetória de vida até os 15 anos, criada por esse clérigo, que lhe batizou com o nome de Francisco e o instruiu da melhor maneira possível, também expõe um aspecto muitas vezes negligenciado nas pesquisas: a influência do contato entre negros escravizados e o mundo religioso cristão, seja no âmbito da catequização, seja nas estratégias de resistência cultural desenvolvidas por aqueles que viviam sob domínio colonial.
Com relação à formação de Zumbi, segundo d’ Amorim (1997):
Ao examinarmos suas atitudes, vemos de um lado, a repetição de toda uma maneira africana de agir, reelaborada, entretanto, com uma contribuição da cultura ibérica, por conseguinte moura, trazida também a seu conhecimento pelo Padre Melo, em seus anos de estudo e convivência. (d’Amorim, 1997, p. 32)
A sua fuga e posterior retorno ao quilombo, bem como a adoção como sobrinho de Ganga Zumba em 1670, marcam um momento importante da história palmarina. Ao receber o nome que o tornaria uma figura icônica, Zumbi se firmou como líder e símbolo de resistência. Ainda que Rufino (2006, p. 34) discuta a origem desse nome e seus significados em diferentes culturas africanas e caribenhas, as conexões entre Zumbi e as tradições espirituais africanas são aspectos que carecem de mais investigações, especialmente no que diz respeito à relação dos quilombolas com suas crenças religiosas e a forma como essas influências impactaram sua organização social e política.
Ganga Zumba, que chegou a Palmares no período da invasão holandesa, era, ao contrário de Zumbi, um africano alto e musculoso. Tinha provavelmente temperamento suave e habilidades artísticas, como em geral os nativos de Allada, nação fundada pelo povo ewe na Costa dos Escravos. Essa diferenciação entre as lideranças do quilombo levanta outra questão ainda pouco explorada: os conflitos internos e as disputas políticas entre diferentes facções dentro de Palmares. Compreender melhor os posicionamentos de Ganga Zumba e Zumbi permitiria um olhar mais amplo sobre as estratégias de resistência adotadas ao longo dos anos.
Com relação ao retorno de Zumbi a Palmares e a grande extensão do quilombo em 1670, Rufino (2006):
Palmares eram dezenas de povoados, cobrindo mais de seis mil quilômetros quadrados. Trezentos anos depois, nomes sonoros saltam dos papéis históricos: Macaco, na Serra da Barriga (oito mil moradores); Amaro, perto de Serinhaém (cinco mil moradores); Subupira, nas fraldas da Serra da Juçara; Osenga, próximo do Macaco; aquele que mais tarde se chamou Zumbi, nas cercanias do Porto Calvo; Aqualtene, idem; Acotirene, ao norte de Zumbi (parece ter havido dois Acotirenes); Tabocas; Drambrabanga; Andalaquituche, na Serra do Cafuxi; Alto Magano e Curiva, cerca da atual cidade pernambucana de Garanhuns. Gongoro, Cucaú, Pedro Capacaça, Guiloange, Uma, Catingas, Engana-Colomim…Quase trinta mil viventes, no total (Rufino, 2006, p. 30).
Zumbi se opôs ferrenhamente ao pacto entre o líder do quilombo e o governador de Pernambuco, fundamentando sua resistência na experiência adquirida ao longo de sua formação. Sua ascensão ao poder foi marcada por tensões, e sua recusa a qualquer tipo de acordo com os portugueses revela uma postura intransigente na luta contra a escravidão. Essa perspectiva reforça a necessidade de estudos que aprofundem a construção da liderança de Zumbi, analisando se sua oposição à negociação era compartilhada pela maioria dos quilombolas ou se havia divergências sobre o caminho a ser seguido.
A destruição de Palmares ocorreu no início de 1694, após diversas investidas contra o quilombo. O bandeirante Domingos Jorge Velho, contratado por Melo e Castro, governador da capitania de Pernambuco, conseguiu subjugar os quilombolas.
Vasconcelos (1995) narrando alguns detalhes do que possivelmente aqueles quilombolas enfrentaram da noite do dia 5 para o nascer do dia 6 de fevereiro de 1694:
[…] fazia escuro, os combates travaram-se à beira do precipício, e cerca de 200 negros rolavam no abismo e outros tantos foram liquidados durante a refrega. (…) Ao raiar do dia 6 de fevereiro de 1694, paulistas, alagoanos e pernambucanos penetraram as fortificações do Zumbi, capturando a bagagem dos quilombolas e a população não combatente – mulheres e crianças do Macaco (Vasconcelos, 1995, p. 85).
O grande líder negro havia escapado com vida ao cruento combate, mesmo utilizando sua experiência de guerrilha do mato não conseguiu evitar a derrocada do quilombo. Nos meses subsequentes se preocupava apenas em reagrupar o que sobrara de seu exército.
Em meados de 1695 foi reconhecido como coxo e combalidos das calouradas que recebera. Nessa época estava à frente de um grupo que irrompeu na vila de Penedo para conseguir armas e munições.
A sua segunda morte ocorreu por meio da traição. Um de seus homens de confiança foi emboscado, Antônio Soares, torturado e posteriormente, rendeu-se a promessa de boa vida, dinheiro e terras, e em troca, uma emboscada para pôr fim de uma vez por todas, a vida do rei negro. Vendo de modo mais específico o dia 20 de novembro de 1695, conforme Vasconcelos (1995 apud Freitas, 1982, p. 180-181):
[…] alguns instantes após os gritos de Soares, apareceu Zumbi à entrada do sumidouro. O drama foi rápido. Soares se encaminhou para o chefe que o acolheu confiadamente; então bruscamente. Soares enterrou-lhe um punhal.
A morte desse grande líder se mantém expressa de maneira intensa em todas as obras consultadas. Vasconcelos (1995, p. 181) afirma que a cabeça de Zumbi, salgada com sal fino, seguiu para Recife onde o governador mandou espetá-la em um chuço no lugar mais público da cidade, aí permaneceu até se decompor totalmente “para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que supersticiosamente o julgavam imortal”.
Já para Rufino (2006) se relata que na morte de Zumbi ocorreram tiros a facadas e por fim, tendo a sua cabeça decepada e exposta em praça pública no Recife para servir de exemplo a outros que vislumbra mais alguma investida contra a ordem estabelecida da época.
O próprio Rufino (2006) afirma ao comentar sobre os herdeiros de Zumbi, que esse herói contribuiu para a construção de uma memória coletiva dos negros no Brasil, a luta pela identidade negra e pela sua afirmação na sociedade. Dessa forma, o objetivo da elite branca, escravocrata e patriarcal daquela época não foi de forma alguma alcançado, graças ao mais famoso e duradouro modelo de resistência do Brasil colonial.
Para Souza (2007) Zumbi era inteligente e determinado, enfrentou o pai, os senhores de engenho, os capitães do mato e venceu a todos, com estratégias variadas, inclusive a guerrilha, astúcia e grande liderança. Exemplo de resistência para a sua época, e a partir dele, o surgimento das várias mudanças na sociedade escravocrata; início de um processo paulatino que veio a culminar na Abolição da Escravatura, mais de cento e noventa anos depois.
Amorim (1997, p. 90) afirma que “Zumbi possuía uma inata e incrível capacidade de síntese, assimilação do novo, criador de cultura, detentor do carisma do chefe, mentor e alicerce de um povo”.
O LEGADO DE ZUMBI E O PAPEL DA CULTURA NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE AFRO-BRASILEIRA
Para Albiazzetti (2009), alguns fatores que agem diretamente ou indiretamente na construção da cultura são: família, grupos sociais, o conhecimento artístico, literário, religioso, além de outros como o meio ambiente, as lembranças do passado, trabalho, estudo, os sistemas políticos, contexto econômico, etc. O fato é que esses fatores tão diferentes não agem isoladamente, dependem uns dos outros, convivem e formam uma rede de relações na qual somos inseridos.
Dessa forma, Albiazzetti (2009) afirma que, ao mesmo tempo em que recebemos a herança cultural, agimos e produzimos cultura, de forma que nos tornamos herdeiros legítimos de nossos antepassados. Por meio desse legado, podemos utilizar solidariedade, afeto, respeito ou até mesmo violência. Esse conjunto de valores transmitidos por nosso grupo social constitui nossa identidade.
Para Rufino (2006), o legado de Zumbi sobreviveu aos nossos dias, ou seja, a herança cultural afrodescendente desse líder negro chegou à posteridade, graças à resistência, direta ou indireta, em vários locais e épocas. Segundo o autor, “se não, todos os negros haveriam ‘branqueado’ até mesmo as próprias almas por meio da imposição de uma cultura dita superior, que fazia de tudo para apagar resquícios da identidade negra africana nos indivíduos escravizados”. Essa afirmação aponta para uma das principais discussões acadêmicas sobre a construção da identidade afro-brasileira e sua ressignificação ao longo da História.
No entanto, apesar da importância do legado de Zumbi e da resistência quilombola, ainda existem lacunas no conhecimento acadêmico acerca das dinâmicas internas do Quilombo dos Palmares, das relações sociais estabelecidas entre os quilombolas e dos impactos duradouros dessa experiência para a formação da cultura afro-brasileira. Muitos dos relatos sobre Palmares são provenientes de fontes coloniais, geralmente escritas por autoridades que viam os quilombolas como inimigos, o que levanta questionamentos sobre a parcialidade dessas narrativas.
A carência de estudos aprofundados sobre o cotidiano, a organização política e os aspectos culturais do quilombo reforça a necessidade de novas pesquisas que possam ampliar a compreensão do tema. Segundo Gomes (2011), ainda há muito a ser estudado sobre as redes de solidariedade entre os quilombolas, sua interação com populações indígenas e mestiças da época, bem como a transmissão de conhecimentos africanos que influenciaram a cultura brasileira.
Os eventos, fatos e acontecimentos históricos deixam suas marcas, e a existência do contínuo processo de mudanças sociais e culturais demonstra que as percepções sobre Zumbi e Palmares se alteram ao longo do tempo. O entendimento sobre sua trajetória varia conforme os interesses e perspectivas predominantes em cada período histórico, o que reforça a necessidade de revisitar essas narrativas com base em novas evidências e abordagens críticas. Dessa forma, o estudo sobre Zumbi e sua resistência permanece essencial para a construção de uma memória coletiva e para a valorização da identidade negra no Brasil contemporâneo.
DAS FONTES HISTÓRICAS ÀS DIFERENTES IMAGENS E REPRESENTAÇÕES DE ZUMBI DOS PALMARES
Na obra palmares, ontem e hoje, de Pedro Paulo Funari e Aline Vieira de Carvalho, os autores procuram analisar criticamente os caminhos percorridos pela historiografia brasileira sobre Palmares para se perceber as configurações assumidas nas diferentes imagens construídas de um único quilombo, de um único líder negro, registrando que cada autor em cada época tenta representar o Quilombo dos Palmares como uma resposta aos questionamentos do seu próprio tempo.
Funari e Carvalho (2005) reforçam esse pensamento:
Como tratar de Palmares hoje? Seria possível desvencilhar-se dessa miragem e deixar de vê-lo como uma resposta às nossas angústias atuais? Estaríamos iludindo-se se disséssemos que nosso ponto de vista, à diferença dos anteriores, é o mais objetivo e o mais próximo da realidade, neutro e distante de nossas próprias experiências e expectativas (Funari; Carvalho, 2005, p. 9).
Dessa forma, para se compreender o passado no que se refere a Zumbi e Palmares, é imprescindível um conhecimento sobre os autores, o contexto em que estão inseridos na produção de suas obras, sem falar numa intensa análise das fontes existentes e disponíveis, e das principais teorias que podem auxiliar na sua interpretação.
Outro ponto bastante pertinente na obra de Funari e Carvalho (2005) é o que se sabe sobre Palmares e Zumbi hoje. A partir desse momento transcorre-se uma narrativa histórica em que são citados alguns aspectos como, a formação do quilombo por volta de 1605, a área e a localização, o processo de crescimento, os ataques dos quilombolas às fazendas, o conjunto de aldeias, a entrada dos holandeses que favoreceu o assentamento de refugiados, o pacto entre Domingos Jorge Velho e o governador de Pernambuco e a destruição de Palmares em 1694; todas as informações norteadas por documentos históricos da época.
Funari e Carvalho (2005) ressaltam que para a análise de fontes escritas como é o caso específico de Palmares, o mais prudente é que nos prendemos ao fato de que esses documentos escritos foram produzidos por uma elite letrada, às vezes muito distante da realidade física e/ou cultural dos quilombolas, cujas características sociais divergem muito do escritor, aquele indivíduo formado em uma sociedade patriarcal e oligárquica, com uma mente racial estereotipada. Diante dessa postura epistêmico-metodológica, reforça Gomes (2011):
Será que os relatos das expedições punitivas eram exagerados tanto para justificar o empenho de alguns governadores da capitania e de militares como para ressaltar os recursos mobilizados na repressão? Provavelmente. De um lado, temores e dificuldades para a sua destruição e, de outro, uma reprodução demográfica crescente fizeram de Palmares bem maior do que foi ou poderia ter sido. Será? (…) No final do século XVII, autoridades chegaram a afirmar, com exagero, que os palmaristas se espalhavam até as capitanias de Sergipe, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande do Norte (Gomes, 2011, p. 17).
É a partir desse momento que diferentes autores se questionam a respeito da veracidade de algumas informações de documentos históricos acerca do Quilombo dos Palmares e de possíveis exageros por parte das autoridades que organizavam ou que arcavam com os gastos das malogradas investidas, reveladas pelos relatos das várias expedições punitivas.
Com relação à figura de Zumbi, Funari e Carvalho (2005) se debruçam na afirmação da exponencial importância do líder para aqueles de sua época que sonhavam com o sucesso do grande Reino Negro dos Palmares. Com a sua morte, o sonho tornou-se uma utopia, ou seja, algo inalcançável. Com isso, logo os povoados, cidades, fazendas e senzalas passaram a sentir uma intensa sensação de tristeza e desalento com as notícias do seu terrível e trágico fim. No entanto, para alguns, o deus da guerra negro nunca foi derrotado ou morto:
Os negros e mesmo muitos brancos e índios não acreditavam na morte do Rei Zumbi. […] Não podia ser verdade, Zumbi não era um homem comum e sim o deus da guerra, o mais poderoso dos gênios, irmão e dono do mar. E viera à Terra para chefiar a luta dos negros e dar esperança aos ainda cativos. Por isso diziam os negros, Zumbi era imortal […] Mas alguns garantiam que Zumbi já fora derrotado; tanto falavam que os negros começaram a ficar em dúvida (Funari; Carvalho, 2005, P. 8).
A figura de Zumbi alterou-se ao longo da historiografia, basicamente pelos questionamentos e análises da própria época de cada autor, ou seja, de acordo com o contexto histórico de cada artista e obra.
As obras do pintor alemão Rugendas, que retratam a vida dos escravos nas lavouras; um desenho holandês de Palmares, produzido em 1647, representando uma cena cotidiana; a imagem de Domingos Jorge Velho de Benedito Calixto; a ilustração de um livro paradidático de 1990, mostrando Zumbi com músculos e expressões ferozes; a imagem de monumentos criados a partir de 1960, época em que o personagem passou a ser visto como herói nacional, como o que se encontra na Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro; o retrato de Zumbi feito por Manuel Victor, no qual mostra um homem forte, mas com expressão tranquila e olhar fraco e a imagem mais famosa do herói negro pintada por Antônio Parreiras.
Qual seria o principal objetivo de se analisar as imagens de Zumbi produzidas em diferentes épocas? Deve-se levar em consideração as diversas interpretações desse guerreiro representadas de acordo com as percepções e o imaginário artístico de cada autor em seu contexto histórico específico, que ora ressaltava a fraqueza do negro, ora valorizava a sua força.
A FIGURA DE ZUMBI NA DÉCADA DE 1960
Cada autor, a partir da década de 1960, utiliza-se da historiografia para a análise de mudança da percepção das classes populares brasileiras no que diz respeito a Zumbi e a Palmares. De acordo com eles, por meio do golpe ditatorial de 1964 Palmares havia se tornado um importante símbolo social do Brasil, das classes mais humildes, exaltada pelo exemplo de resistência, e o próprio Zumbi elevado a um patamar de sublevado a herói, passando a ser foco de discursos que o ilustrava como principal representante da luta contra a sociedade escravista estabelecida, um rei negro, impondo-o assim, características políticas e revolucionárias.
Seguindo esse pensamento, Funari e Carvalho (2005) ilustram:
Imaginemos a impressão de um povo amedrontado pelas trevas de um regime de opressão que não admitia contestação. A morte de Zumbi e a derrota de Palmares não podiam deixar de serem sentidas como metáfora para a situação daquela época. (…) Sob imagens de Palmares forjadas naquela luta por um passado que servisse de arma para a libertação no presente (Funari; Carvalho, 2005, p. 8-9).
Os autores do período ditatorial brasileiro, analisaram e discutiram o caráter violento da escravidão e principalmente os vários formatos e oposição assumidos pelo negro frente à autoridade do seu senhor. Apesar de serem conjunturas históricas explicitamente diferentes, alguns procuraram por meio de metáforas instigar a população mais humilde a refletir sobre a situação daquele período.
De modo geral, ao analisar esse discurso sobre a figura de Zumbi nos Anos de Chumbo, o principal objetivo está centrado numa reflexão sobre a situação da população brasileira que mesmo por metáforas se comparava as populações quilombolas, trazendo à tona o sentimento de resistência e consequentemente de mudança na percepção das pessoas acerca desse grande líder negro, que foi estigmatizado todos aqueles séculos até o prelúdio da repressão e do autoritarismo militar no Brasil.
DE SUBLEVADO A HERÓI NACIONAL
Por qual motivo ocorreu a mudança na figura de Zumbi de sublevado a herói nacional nos anos 1960? O contexto histórico se enquadra na questão de que o golpe ditatorial de 1964 havia levado Palmares a se tornar um importante símbolo social do Brasil, das classes mais humildes, exaltada pelo exemplo da resistência. E a partir desse momento, o próprio Zumbi foi elevado a um patamar de herói nacional, passando a ser foco de discursos que o ilustravam como principal representante da luta contra a sociedade estabelecida, introduzindo a esse rei negro características políticas e revolucionárias.
Essa mudança de percepção sobre Zumbi também se deve ao crescimento das pesquisas acadêmicas sobre a resistência negra no Brasil e à valorização da cultura afro-brasileira. Segundo Munanga (1999), a construção da imagem de Zumbi como herói nacional esteve diretamente relacionada ao fortalecimento dos movimentos negros e à necessidade de reafirmação identitária. Nesse sentido, a historiografia passou a reavaliar os quilombos não mais como meros agrupamentos de fugitivos, mas como espaços de organização política, social e cultural.
Contudo, apesar desse reconhecimento, ainda há lacunas significativas no estudo sobre Zumbi e Palmares. Pesquisadores como Gomes (2011) e Reis (2017) apontam que muitas narrativas sobre Zumbi foram construídas com base em documentos coloniais, que carregavam viés ideológico e buscavam desqualificar a luta quilombola. Além disso, há poucas fontes primárias que detalham o funcionamento interno do quilombo, sua estrutura de governança e as relações entre os diferentes grupos que ali viviam.
Outro ponto pouco explorado pela historiografia tradicional é a influência de Palmares em outros movimentos de resistência negra no Brasil. Segundo Oliveira (2020), a memória do quilombo e de seu líder influenciou organizações como o Movimento Negro Unificado (MNU), que surgiu na década de 1970, e as políticas afirmativas adotadas no século XXI. No entanto, estudos mais aprofundados ainda são necessários para compreender como essa construção simbólica de Zumbi impactou o discurso político ao longo do tempo.
Assim, a elevação de Zumbi ao status de herói nacional não apenas reflete uma ressignificação histórica, mas também aponta para a necessidade contínua de estudos que analisem a complexidade desse processo. A forma como a história de Palmares e de seu líder foi narrada ao longo do tempo revela não apenas mudanças nas interpretações historiográficas, mas também disputas ideológicas em torno da memória e da identidade afro-brasileira. Dessa maneira, novos estudos sobre Zumbi e a resistência negra no Brasil são fundamentais para preencher essas lacunas e garantir uma compreensão mais ampla sobre seu legado e impacto na sociedade contemporânea.
A IMPORTÂNCIA DE ZUMBI PARA A COMUNIDADE NEGRA, A CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRODESCENDENTE NO BRASIL
E por fim, e não menos importante, a relação existente entre Zumbi e o movimento negro no Brasil das últimas décadas. A partir do final dos anos 1970, esse importante personagem tornou-se um símbolo de resistência e foi homenageado pela comunidade negra brasileira, transformando o dia 20 de novembro, aniversário de sua morte, no Dia Nacional da Consciência Negra. Essa data, além de rememorar a luta quilombola e a resistência negra, tem como principal objetivo refletir sobre o racismo e suas múltiplas manifestações, bem como buscar alternativas para sua superação e valorização da identidade afrodescendente no país.
Para Funari e Carvalho (2005), Zumbi, além de representar a imagem de um líder da resistência escrava, também simboliza a figura de um herói nacional que contribuiu para o paulatino processo de libertação dos escravizados, concretizado em 1888. No entanto, enquanto a historiografia tradicional por muito tempo silenciou a trajetória de Zumbi ou a restringiu à esfera da rebeldia isolada, novas abordagens passaram a reinterpretar sua importância na construção da identidade negra brasileira e no reconhecimento da luta por direitos civis.
A tentativa de sedimentar a cultura afro-brasileira, sempre presente, porém historicamente marginalizada, ganhou força com a criação de um dos grandes pilares de valorização dessa identidade: a Lei 10.639/03. Essa legislação, que tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana na Educação Básica, representa um avanço na construção de uma educação antirracista. Segundo Munanga (2009), a implementação dessa lei é essencial para a reconstrução da memória histórica dos povos africanos e seus descendentes no Brasil, permitindo que a narrativa sobre Zumbi e Palmares seja abordada de maneira mais ampla, crítica e contextualizada.
Contudo, ainda há desafios e lacunas na implementação dessa política educacional. Estudos como os de Gomes (2017) apontam que, apesar dos avanços proporcionados pela legislação, a abordagem da cultura afro-brasileira no currículo escolar ainda enfrenta resistência e é frequentemente tratada de forma superficial. Isso demonstra a necessidade de uma maior formação de professores e de materiais didáticos que contemplem a riqueza e complexidade da história afro-brasileira, sem reforçar estereótipos ou reduzir a resistência negra apenas à escravidão.
A nova visão de Zumbi e do Quilombo dos Palmares, abordada por autores contemporâneos, contribui significativamente para ampliar o debate sobre discriminação racial dentro e fora das escolas. Segundo Almeida (2018), essa releitura do papel de Zumbi permite desconstruir mentalidades errôneas e combater a visão eurocêntrica que por muito tempo predominou na historiografia oficial. Além disso, ao enfatizar a importância dos quilombos como espaços de resistência política e cultural, esses estudos possibilitam uma maior valorização da cultura afro-brasileira e afrodescendente.
Tanto as obras quanto os autores que se debruçaram sobre o tema contribuem para o aprimoramento do conhecimento histórico acerca da trajetória de Zumbi. Ao mesmo tempo, suas análises possibilitam a internalização de conceitos fundamentais, como mudanças e permanências, sujeito histórico, dominação e resistência, consequências da escravidão, racismo estrutural e cultura afro-brasileira. Dessa forma, ao revisitar as diferentes abordagens sobre Palmares e seu líder, é possível compreender como a resistência quilombola foi ressignificada ao longo do tempo, permitindo que a comunidade negra brasileira reivindique a memória de Zumbi como parte essencial de sua luta por direitos e contra a desigualdade racial.
Diante do discurso contemporâneo e da atual valorização de Zumbi, é importante refletir: por que a comunidade negra escolheu o 20 de novembro (dia da morte de Zumbi) e não o 13 de maio (dia da abolição da escravidão) para representar o Dia da Consciência Negra? Para autores como Nascimento (1982), a resposta está no significado de cada data: enquanto o 20 de novembro simboliza a luta ativa dos negros por sua liberdade e a resistência contra a escravidão, o 13 de maio marca um processo de abolição imposto de cima para baixo, sem a garantia de direitos básicos para os ex-escravizados. Como destaca Silva (2020), a abolição não veio acompanhada de políticas de inclusão, resultando na exclusão socioeconômica da população negra e na perpetuação do racismo estrutural no Brasil.
Portanto, a escolha do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra não apenas reafirma Zumbi como um símbolo de resistência, mas também reflete a necessidade de reconhecimento da luta contínua da população negra por direitos e igualdade. Dessa maneira, o estudo sobre Zumbi e Palmares se torna ainda mais relevante, pois permite que novas gerações compreendam a importância da resistência negra e da construção de uma sociedade mais justa e plural.
METODOLOGIA
A presente pesquisa adota o delineamento de uma revisão bibliográfica com o objetivo de analisar a figura de Zumbi dos Palmares enquanto narrativa histórica na contemporaneidade. O estudo é de natureza qualitativa, com uma abordagem descritivo-interpretativa, buscando compreender como Zumbi tem sido representado ao longo do tempo, considerando diferentes contextos sociopolíticos. O método utilizado é o histórico-crítico, que permite analisar a evolução das interpretações sobre Zumbi, considerando fatores históricos, culturais e políticos que influenciaram sua construção simbólica.
O objeto de estudo concentra-se na própria figura de Zumbi dos Palmares, analisada tanto em sua dimensão histórica quanto em suas ressignificações na contemporaneidade. As estratégias metodológicas incluem a seleção criteriosa de fontes acadêmicas e documentais, com base em artigos científicos, livros, dissertações e teses disponíveis em bases de dados como Google Scholar, SciELO, CAPES Periódicos e ResearchGate.
Foram utilizados descritores específicos para a busca de materiais relevantes, incluindo termos como “Zumbi dos Palmares”, “narrativa histórica”, “memória coletiva”, “identidade afro-brasileira”, “quilombos”, e “resistência negra”. A pesquisa priorizou estudos que oferecem diferentes perspectivas analíticas, desde interpretações historiográficas tradicionais até abordagens contemporâneas que dialogam com questões de identidade e memória cultural.
Quanto ao problema de pesquisa, busca-se responder de que maneira a narrativa sobre Zumbi dos Palmares tem sido construída e ressignificada na atualidade. Os objetivos são descritivos, ao mapear as diferentes representações de Zumbi, e interpretativos, ao analisar criticamente os fatores que contribuem para sua ressignificação.
Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa se baseia na análise documental, com revisão de literatura acadêmica e fontes históricas. Não foram formuladas hipóteses fixas, já que o estudo é exploratório e interpretativo, mas parte-se da premissa de que as representações de Zumbi variam de acordo com variáveis históricas, culturais e políticas. A técnica principal utilizada é a análise de conteúdo, permitindo a identificação e categorização dos discursos e representações sobre Zumbi dos Palmares no contexto contemporâneo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história do Brasil, apesar de sua diversidade e miscigenação, ainda é contada majoritariamente sob uma ótica elitista, marginalizando narrativas que valorizam a contribuição das populações negras e indígenas. A figura de Zumbi dos Palmares exemplifica esse processo, sendo ressignificada ao longo do tempo, de um sublevado perigoso a um herói nacional e símbolo de resistência.
Este trabalho buscou abordar, sob diferentes perspectivas, a trajetória de Zumbi e a importância do Quilombo dos Palmares no século XVII, analisando como sua imagem foi transformada ao longo da historiografia. Ressaltou-se a reviravolta em sua representação durante a Ditadura Militar, quando Zumbi passou a ser exaltado como herói popular e inspiração para os movimentos sociais, culminando na sua atual simbologia como ícone da luta negra e da cultura afro-brasileira e afrodescendente.
Diante das diversas abordagens historiográficas, foi possível perceber como a construção da memória histórica de Zumbi reflete não apenas a resistência quilombola do passado, mas também a contínua luta contra o racismo e a discriminação racial no Brasil. O estudo evidenciou a relevância de aprofundar o conhecimento sobre a cultura afro-brasileira e suas contribuições para a sociedade, incentivando uma visão mais crítica e menos estereotipada sobre a resistência negra ao longo da história.
Pesquisas futuras podem aprofundar a análise sobre a implementação da Lei 10.639/03 e seus impactos na formação educacional, além de investigar a presença de Palmares e Zumbi nas narrativas escolares e na cultura popular contemporânea. Também seria relevante explorar como a memória quilombola é preservada e ressignificada pelas comunidades remanescentes, promovendo uma valorização ainda maior da herança africana no Brasil. Dessa forma, o debate sobre a identidade negra e a luta por igualdade continuará a se fortalecer, garantindo que a história de resistência e conquista não seja esquecida.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ALBIAZZETTI, G. Antropologia Cultural/ Giane Albiazzetti – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
CASTELLS, M. O poder da identidade/ M. Castells – São Paulo: Paz e Terra, 1999.
D’AMORIM, E. África: essa mãe quase esquecida/ Eduardo d’Amorim – São Paulo: FTD, 1997.
FUNARI, P. P. Palmares, ontem e hoje / Pedro Paulo Funari e Aline Vieira de Carvalho. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.
GOMES, F. dos S. De olho em Zumbi dos Palmares: histórias, símbolos e memória social/ Flávio dos Santos Gomes – São Paulo: Claro Enigma, 2011.
PINSKY, J. Escravidão no Brasil (repensando a História)/ Jaime Pinsky – 13. Ed. – São Paulo: Contexto, 1994.
RUFINO, J. dos S. Brasil – História – Palmares, 1630 a 1695 (Ensino Fundamental). Zumbi, m. 1695 I. Borges, Rogério II. Título. 2. Ed. rev. – São Paulo: Global, 2006.
SOUZA, M. de M. e. África e Brasil africano/ Marina de Mello e Souza – 2. Ed. – São Paulo: Ática, 2007.
VALENTE, A. L. E. F. Ser negro no Brasil hoje (Coleção polêmica)/ Ana Lúcia E. F. Valente – São Paulo: Moderna, 1987.
VASCONCELOS, Selma. Zumbi dos Palmares/ Selma Vasconcelos. – Recife: FUNDARPE, 1995.
Referencias
Share this :
Área do Conhecimento