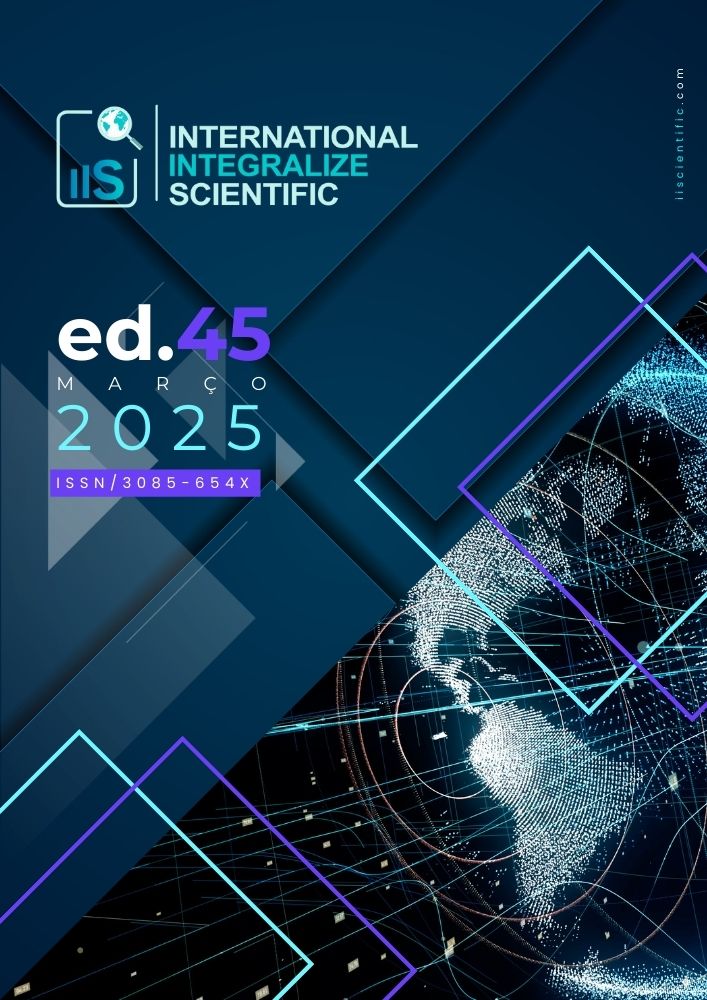Regimes de segurança máxima no brasil: desafios e possibilidades no combate às facções criminosas.
MAXIMUM SECURITY REGIMES IN BRAZIL: CHALLENGES AND POSSIBILITIES IN FIGHTING CRIMINAL FACTIONS
REGÍMENES DE MÁXIMA SEGURIDAD EN BRASIL: DESAFÍOS Y POSIBILIDADES EN LA LUCHA CONTRA LAS FACCIONES CRIMINALES
Autor
Avelino Thiago dos Santos Moreira
Resumo
Summary
Resumen
INTRODUÇÃO
O crescimento e a consolidação das facções criminosas no Brasil representam um dos maiores desafios para o sistema de segurança pública e o sistema penitenciário. Formadas, muitas vezes, dentro das próprias prisões, essas organizações ampliaram sua influência para além dos muros das penitenciárias, coordenando atividades criminosas como tráfico de drogas, homicídios e extorsões. Nesse contexto, os regimes de segurança máxima foram instituídos com o objetivo de conter a atuação desses grupos, isolando suas lideranças e restringindo sua comunicação com o mundo exterior. Contudo, a efetividade desses regimes continua sendo um tema controverso, pois há indícios de que, mesmo em unidades de segurança máxima, líderes das facções continuam a comandar suas organizações e a influenciar atividades ilícitas.
O crime organizado no Brasil tem se tornado uma das maiores ameaças à segurança pública, desafiando não apenas as forças de segurança, mas também o próprio sistema penitenciário. As organizações criminosas atuam em múltiplos níveis, desde o tráfico de drogas até a infiltração em instituições públicas, afetando diretamente a estabilidade social e econômica do país. Nesse contexto, o Sistema Penitenciário Federal (SPF) surge como uma estratégia do Estado para enfrentar essas facções, isolando líderes de organizações criminosas em unidades de segurança máxima, como o Presídio Federal de Catanduvas, com o objetivo de enfraquecer suas operações. No entanto, a eficácia dessas medidas é constantemente desafiada por diversos fatores, como a superlotação, a corrupção e a falta de recursos para programas de reintegração social.
A implementação de presídios federais de segurança máxima, como o Presídio Federal de Catanduvas, tem sido uma das principais estratégias para desarticular o poder das facções criminosas. Esses estabelecimentos possuem regras rígidas, como o isolamento em celas individuais, restrição de visitas e monitoramento constante dos detentos. No entanto, limitações práticas e jurídicas comprometem a real efetividade desses regimes. Entre os principais desafios estão a superlotação carcerária, a falta de recursos humanos e tecnológicos para o controle efetivo, e as dificuldades jurídicas associadas à aplicação de regimes disciplinares mais severos.
Diante desse cenário, o objetivo deste artigo é avaliar a efetividade dos regimes de segurança máxima no Brasil no combate às facções criminosas. A pesquisa visa analisar o funcionamento desses regimes, identificar suas principais falhas e discutir alternativas para aprimorá-los, a fim de garantir maior controle sobre os detentos de alta periculosidade. Serão abordados aspectos como a influência do crime organizado dentro dos presídios, as fragilidades do sistema penitenciário e as possíveis reformas que poderiam tornar essas unidades mais eficientes na contenção da criminalidade.
A relevância deste estudo reside na necessidade de compreender até que ponto as políticas de segurança máxima estão cumprindo seu papel, e quais mudanças podem ser implementadas para torná-las mais eficazes. Considerando o avanço das facções criminosas e seu impacto na segurança pública, é essencial realizar uma análise profunda sobre a efetividade desses regimes e suas limitações, contribuindo para o debate sobre melhorias no sistema prisional brasileiro.
LEI DE EXECUÇÕES E O MODELO DE SEGURANÇA MÁXIMA
O crescimento exponencial do número de detentos no Brasil resultou na transformação das prisões em verdadeiras “escolas do crime”, criando um ambiente propício para a formação de facções criminosas. Muitas dessas organizações nasceram dentro das penitenciárias e, ao longo do tempo, expandiram suas operações para fora dos muros dos presídios, comandando atividades ilícitas como tráfico de drogas, homicídios e extorsões. A história das principais facções do Brasil, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), demonstra como esses grupos se consolidaram a partir do cárcere (Nunes, 2020; Torres, 2020).
Com o crescimento e a consolidação dessas facções, especialmente a partir dos anos 2000, as rebeliões nas prisões se intensificaram, gerando grande repercussão nas mídias. Tais eventos culminaram em assassinatos de presos rivais, e as ordens para a execução dessas ações eram emitidas de dentro dos presídios, refletindo no exterior com homicídios e aumentando a violência e o pânico social. Essa escalada de violência demandou uma resposta urgente dos órgãos de segurança pública, que passaram a adotar medidas para conter a atuação das facções criminosas (Magaloni; Franco-Vivanco; Melo, 2018).
Como resposta a essa situação, a Lei de Execuções Penais (LEP) incorporou, em 2003, o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) através da Lei nº 10.792/2003. O RDD é um mecanismo de punição carcerária criado para isolar presos de alta periculosidade, principalmente aqueles que, mesmo encarcerados, continuam a exercer influência sobre organizações criminosas. Inspirado em modelos internacionais de contenção extrema, o RDD impõe restrições severas aos detentos, limitando suas comunicações e minimizando a interação com outros presos (Brasil, 2003).
O surgimento e a implementação do RDD são reflexos do crescente controle exercido pelas facções criminosas, cujos líderes continuavam a atuar dentro das penitenciárias. A aplicação do RDD, portanto, tornou-se uma estratégia essencial para reforçar o controle sobre esses indivíduos. No entanto, sua aplicação gera controvérsias, especialmente em relação à sua constitucionalidade e à efetividade no combate ao crime organizado (Villani; Mosca; Castiello, 2019).
Além desse ponto, o Sistema Penitenciário Federal (SPF) foi criado em 2007, por meio do Decreto nº 6.049, como uma resposta estratégica ao crescente poder das facções criminosas e à necessidade de combater crimes de alta periculosidade (Brasil, 2007). Conforme explica Carvalho (2018), a segregação de líderes de facções, como o PCC e o CV, visa desmantelar suas redes de comunicação e operação tanto dentro quanto fora dos presídios. As principais características do SPF incluem confinamento rigoroso, isolamento e privação, como o uso de celas individuais, restrições ao banho de sol e visitas, e a imposição do RDD, com o objetivo de neutralizar os detentos mais perigosos.
A proposta principal do SPF consiste em manter sob custódia federal os expoentes da criminalidade nacional e internacional, afastando sua influência danosa dos demais presos, desarticulando-os de suas organizações criminosas (Torquato, 2015, p.63).
Atualmente, o Brasil conta com cinco penitenciárias de segurança máxima operando dentro do sistema penitenciário federal: Penitenciária de Catanduvas (PR); Penitenciária Federal de Campo Grande (MS); Penitenciária Federal de Porto Velho (RO); Penitenciária de Mossoró (RN); e Penitenciária Federal de Brasília (DF). A Penitenciária de Catanduvas foi a primeira a ser criada e foi estrategicamente escolhida por sua localização em uma região com baixo índice de criminalidade e grande isolamento, atendendo às necessidades do SPF. As penitenciárias federais foram projetadas com base no modelo de segurança máxima dos Estados Unidos, contando com até 208 celas individuais. Esses presídios garantem o isolamento dos detentos por 22 horas diárias, sendo concedidas duas horas diárias para o banho de sol, período no qual o contato dos presos é restrito apenas aos integrantes de sua própria ala, que comporta até 13 detentos (Zarate, 2021).
O sistema penitenciário federal abriga presos considerados de extrema periculosidade, cuja permanência em presídios comuns representaria um risco elevado tanto para a segurança pública quanto para a gestão do sistema prisional. Além desses indivíduos, também são enviados para essas unidades líderes de facções criminosas e colaboradores da justiça que necessitam de proteção especial devido a riscos de represálias. Entre os detentos mantidos nesse regime, destacam-se nomes como Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, um dos principais líderes do PCC, e Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, associado ao Comando Vermelho (Cavalcanti Neto, 2024)
LIMITAÇÕES PRÁTICAS E JURÍDICAS A EFICÁCIA DO MODELO DE SEGURANÇA MÁXIMA NO COMBATE ÀS FACÇÕES CRIMINAIS
Apesar das medidas restritivas adotadas no sistema de segurança máxima, diversas limitações comprometem a eficácia dessas unidades no combate às facções criminosas. Muitas dessas limitações estão relacionadas a aspectos jurídicos, especialmente no que diz respeito aos direitos e garantias dos presos, como a Dignidade da Pessoa Humana, que está prevista na Constituição Federal e na Lei de Execuções Penais (LEP) (Brasil, 1984; 1988).
Em regimes mais rígidos, os presos ainda têm o direito à visitação de familiares e advogados. No entanto, em muitos casos, esses visitantes acabam se tornando cúmplices dos presos, facilitando a comunicação entre os detentos e o mundo exterior, o que mantém ativa a rede criminosa. Embora o modelo de segurança máxima restrinja as interações, os presos ainda utilizam seus direitos para contornar as restrições e acessar informações externas, sem violar, aparentemente, a lei (Brasil, 1984; Cerqueira; Tourinho, 2019).
A comunicação clandestina entre os líderes das facções e seus comparsas fora das prisões é um problema recorrente. Há relatos de que os presos continuam a se comunicar com suas organizações por meio de advogados, visitantes ou mensagens codificadas em cartas e documentos legais. Mesmo no regime de isolamento, a “brecha” no sistema ocorre no momento do banho de sol, durante o qual os detentos, apesar de ficarem 22 horas em isolamento, têm direito a um período de duas horas ao ar livre, podendo interagir com outros presos da mesma ala. Nesse momento, a comunicação entre os detentos pode ser facilitada, o que fortalece a continuidade das atividades criminosas, mesmo dentro das unidades de segurança máxima (Fernandes, 2019; Nunes, 2020).
Além disso, a superlotação e a escassez de recursos são outros fatores críticos. Embora as unidades federais apresentem níveis de lotação inferiores aos dos presídios estaduais, a falta de recursos para manutenção e segurança, assim como a insuficiência de pessoal capacitado, impacta diretamente na eficácia do sistema. Muitas unidades enfrentam sérias deficiências em sua infraestrutura, o que compromete a segurança interna e facilita a continuidade das atividades criminosas dentro dos presídios (De Souza Et Al., 2020; Villela et al., 2019).
Outro fator relevante é a falta de estrutura que inviabiliza a pretensão de ressocialização dos detentos. O sistema prisional, em vez de promover a reintegração dos presos à sociedade, acaba servindo como uma “guarda” temporária, com a premissa de que os presos, afastados da sociedade, cometeriam menos crimes. Contudo, o aumento das organizações criminosas e as frequentes rebeliões dentro das prisões indicam que a reabilitação não é uma realidade no cenário atual. O Brasil, em 2020, figurava em terceiro lugar no ranking da população carcerária mundial, o que agrava ainda mais as condições do sistema penitenciário (Moura, 2020; Villela et al., 2019).
A alta taxa de encarceramento no Brasil tem contribuído para a superlotação e os problemas estruturais. A relação entre presos e agentes penitenciários tornou-se desequilibrada, colocando os funcionários da prisão em risco, uma vez que um grande número de detentos é supervisionado por um número reduzido de agentes. Este desequilíbrio cria um ambiente instável e perigoso tanto para os agentes quanto para os próprios detentos (Moura, 2020). Segundo o pesquisador:
Nesse ambiente de permanente instabilidade, com permanente risco de motins e rebeliões, só quem ganha são as facções criminosas, que, em nome de lutarem pelas garantias legais dos presos e de garantir a segurança de seus membros, aliciam vários deles para as suas organizações (MOURA, 2020, p. 41).
Dessa forma, as condições precárias e superlotadas das celas, aliadas à falta de atividades educativas e laborais, à alta incidência de mortes, torturas e tratamentos cruéis, favorecem a ocorrência de conflitos internos e tornam as prisões vulneráveis ao controle das facções criminosas (Moura, 2020).
METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos, a abordagem metodológica adotada caracteriza-se, quanto à natureza, como um estudo básico, pois visa à geração de conhecimento científico, sem fins comerciais (Gil, 2015). Quanto à abordagem, o estudo é de natureza qualitativa, uma vez que não se busca quantificar ou medir unidades, mas sim compreender o fenômeno de forma subjetiva, caracterizando-se como uma pesquisa típica das ciências sociais. A análise dos dados será realizada por meio da hermenêutica, com a interpretação crítica do pesquisador (Severino, 2017).
Quanto aos objetivos, a pesquisa possui uma natureza exploratória, utilizando a técnica de revisão bibliográfica. As fontes consultadas incluem estudos previamente publicados em artigos, revistas, dissertações, entre outros, disponíveis em bases de dados como SCIELO (Scientific Electronic Library Online), o Portal de Periódicos da CAPES e diversas revistas jurídicas acessíveis por meio do Google Acadêmico. Para consulta às fontes normativas, foram utilizadas fontes oficiais, como o site do Planalto e o site do Senado Federal. Além disso, também foram consideradas informações oficiais sobre o Sistema Penitenciário Federal, publicadas no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Foram selecionados como referência estudos publicados entre os anos de 2015 e 2025, nos idiomas português e inglês, que abordam temas diretamente relacionados ao tópico proposto. Os descritores utilizados nas buscas foram: Sistema Penal; Sistema Prisional; Sistema de segurança máxima; Crime organizado; Facções criminosas. A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2025.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa foi fundamentada em uma extensa revisão bibliográfica, com a análise de diversas fontes acadêmicas, incluindo artigos científicos, livros e publicações de sites especializados. Ao todo, foram analisados 15 artigos científicos e uma tese de dissertação, que forneceram o embasamento teórico e metodológico necessários para entender o combate ao crime organizado, a segurança pública e a atuação do Sistema Penitenciário Federal no Brasil.
Além disso, foram consultados 6 livros, os quais proporcionaram um aprofundamento teórico sobre o tema, especialmente no que se refere à influência das políticas públicas e à estruturação do crime organizado no contexto nacional e internacional. Complementarmente, foram utilizadas 3 fontes eletrônicas, incluindo publicações governamentais e relatórios institucionais, que forneceram dados atualizados sobre o funcionamento das unidades de segurança máxima e as diretrizes adotadas pelo Estado.
A discussão sobre os regimes de segurança máxima no Brasil deve considerar diferentes dimensões do combate ao crime organizado e suas implicações para a segurança pública. O estudo de De Souza et al. (2021, p. 6) oferece uma análise detalhada sobre a complexidade e a atuação das organizações criminosas no Brasil:
Os tentáculos dessas Organizações Criminosas também se espalham pelos três poderes. Nas prisões, a guerra às drogas, a exemplo do modelo americano, provocou um superencarceramento que provocou uma revolução na organização desses estabelecimentos. “De dentro das cadeias, fortaleceu-se o principal coletivo do crime no estado. Essa política [criminosa] está falida, mas continua atuando”, esse coletivo é o Primeiro Comando da Capital, que é uma das grandes Organizações Criminosas atuantes no Brasil, “presente em 22 Estados do Brasil, e se tornou um grande fornecedor de armas e drogas para outras facções”
Passos (2018) destaca a influência das elites civis e militares na formulação das políticas de segurança, evidenciando como essas visões compartilhadas impactam as estratégias repressivas no Brasil e no México. Este contexto está intrinsecamente relacionado com a dinâmica das guerras criminosas e a atuação de grupos armados, conforme analisado por Sullivan (2022), que investiga as estratégias operacionais adotadas por essas organizações para controle territorial e governança criminal. Tais grupos exercem grande influência nas comunidades onde atuam, muitas vezes desafiando o próprio Estado ao impor suas próprias regras e sistemas paralelos de justiça.
Outro aspecto relevante é a expansão do crime organizado em regiões estratégicas, como a Amazônia e a Tríplice Fronteira. Guerreiro (2021) analisa o crescimento das redes criminosas na Amazônia e os impactos dessa expansão para a segurança regional, enquanto Kosmynka (2020) investiga o papel da Tríplice Fronteira como um eixo central para o tráfico de drogas e o financiamento de atividades ilícitas. A atuação dessas facções transnacionais impõe desafios à cooperação internacional, reforçando a necessidade de políticas coordenadas entre os países envolvidos.
Visto o impacto do crime organizado na segurança pública, o Estado buscou atuar de forma mais rigorosa, principalmente em relação aos detentos e líderes das organizações criminosas. Cavalcanti Neto e Dantas (2024) analisam os fatores que levaram à implementação do Sistema Penitenciário Federal (SPF) de segurança máxima no Brasil. O objetivo principal desse sistema é isolar detentos considerados altamente perigosos, prevenindo fugas, rebeliões e a continuidade de atividades criminosas tanto dentro quanto fora das unidades prisionais. O artigo destaca a importância de medidas rigorosas para impedir a comunicação entre líderes de facções criminosas e seus subordinados, buscando, assim, desarticular redes criminosas e garantir a segurança pública. Além disso, os autores enfatizam a necessidade de constante aprimoramento das práticas de segurança e gestão nas penitenciárias federais para enfrentar os desafios impostos pelo crime organizado.
Embora o modelo de segurança máxima adotado nas penitenciárias federais tenha, de fato, contribuído para o controle de líderes de facções criminosas e para a contenção de suas atividades ilícitas, a eficácia dessas medidas a longo prazo ainda está em debate. Estudo de Corrales e Freeman (2024) enfatizam que a utilização excessiva de medidas punitivas sem uma estratégia de reabilitação pode resultar na criação de condições que favorecem o fortalecimento das facções dentro e fora do sistema penitenciário. Essas organizações, adaptáveis por natureza, acabam se fortalecendo através do distanciamento físico imposto pelas unidades de segurança máxima, o que gera um paradoxo: ao tentar isolar os líderes, o sistema acaba por criar um campo fértil para a expansão de suas operações. Dessa forma, é essencial não apenas isolar, mas também adotar medidas que evitem a formação de novas lideranças criminosas e que efetivamente integrem os presos à sociedade após cumprirem suas penas.
Santos (2023), em sua tese de dissertação, ao analisar diversos autores, descreve as penitenciárias federais como uma estratégia de desarticulação das facções criminosas:
[…] as penitenciárias federais brasileiras foram criadas com o objetivo central de desarticular as facções criminosas. Para o pesquisador, tais presídios apresentam algumas funcionalidades centrais, quais sejam: isolar as lideranças das organizações criminosas, prejudicando a sua possibilidade de comando; não permitir que tais lideranças criem novas facções ou fortaleçam as já existentes, tal como ocorre nos presídios estaduais; e, finda a motivação que levou tal aprisionado ao sistema federal, devolvê-lo ao cárcere estadual (SANTOS, 2023, p. 124)
Conforme De Souza et al. (2021), os autores defendem o isolamento dos líderes das organizações criminosas como um novo paradigma para a política criminal, com o objetivo de desarticular o crime organizado transnacional e reduzir os índices de violência. A pesquisa conclui que a implementação dessa estratégia de isolamento dos chefes das facções é essencial no sistema punitivo brasileiro durante a execução penal.
Nessa perspectiva, o Presídio Federal de Catanduvas, como parte do Sistema Penitenciário Federal (SPF), serve como exemplo do modelo de segurança máxima implantado no Brasil para abrigar detentos de alta periculosidade, como líderes de facções criminosas e aqueles que representam riscos significativos à ordem pública. Embora esse modelo tenha como objetivo garantir o controle sobre os presos e evitar a expansão das organizações criminosas dentro do sistema penitenciário, ele apresenta uma série de desafios (Brasil, 2023; Ferreira; Costa, 2024; Mosca et al., 2023).
A aplicação de uma segurança rigorosa, com vigilância constante e isolamento absoluto, pode resultar em condições de vida desumanas, em desacordo com os direitos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais (LEP), que prevê a ressocialização do preso como um dos objetivos principais da pena (Ferreira; Costa, 2024).
Roig (2021, p. 251) explica:
A transferência de presos para estabelecimentos penais federais de segurança máxima não se confunde com o Regime Disciplinar Diferenciado. Este pode ser cumprido tanto em estabelecimento penal estadual, quanto federal. Pela LEP, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal apenas na hipótese do art. 52, § 3º (existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em dois ou mais Estados da Federação).
Além disso, o modelo de segurança máxima dos presídios federais, como o de Catanduvas, acaba por gerar um paradoxo, conforme explicam Pressuto(2021) e Mosca et al. (2023). Ao isolar os presos com o intuito de reduzir sua capacidade de articulação criminosa, muitas vezes o modelo fortalece as facções de forma indireta. A falta de uma estratégia de reintegração social efetiva, aliada à sobrecarga nas unidades e à escassez de recursos humanos e materiais, cria um ambiente de tensão e insegurança tanto para os detentos quanto para os agentes penitenciários.
Chwiej(2019) discute os esforços e desafios no combate ao crime organizado no Brasil, destacando limitações institucionais e estruturais que dificultam a repressão às facções criminosas. A falta de integração entre as diferentes forças de segurança e a superlotação carcerária são fatores que comprometem a eficácia das políticas de segurança. Diante desse cenário, torna-se essencial aprimorar as estratégias de controle prisional e combater as falhas na administração da segurança pública, a fim de reduzir a influência das facções dentro e fora das penitenciárias.
O estudo de Ferreira e Costa (2024) aborda que as penitenciárias de segurança máxima visam isolar líderes de facções criminosas, reduzir a influência dessas organizações dentro do sistema penitenciário e prevenir a expansão de suas atividades criminosas. No entanto, são observados efeitos negativos, como o agravamento de problemas de saúde mental entre os detentos e a violação de direitos humanos e constitucionais.
O foco excessivo na segurança acaba por negligenciar a reabilitação, um dos pilares da Lei de Execuções Penais (LEP), e pode resultar em um ciclo vicioso, no qual as organizações criminosas se adaptam e ampliam sua influência, inclusive dentro das prisões de segurança máxima. Pressuto (2021, p. 133) menciona, inclusive, o distanciamento familiar e os danos à ressocialização:
[…] a família, […] acaba por ser separada, não por negligência estatal, mas de forma deliberada, fruto da ação intencional e consciente dos poderes públicos. Além do impasse gerado pela distância geográfica, os presos podem encontrar outros óbices, melhor delineados quando se observam os processos judiciais relacionados ao Sistema Penitenciário Federal
Portanto, é crucial revisar o modelo adotado pelo SPF, equilibrando a segurança com políticas públicas que visem à reintegração social e à verdadeira ressocialização dos detentos, cumprindo assim o princípio constitucional de que a pena deve buscar a recuperação do condenado.
Ainda sobre as dificuldades e limitações do sistema prisional, a superlotação, a corrupção e a falta de recursos agravam a situação, tornando os presídios vulneráveis à violência e dificultando intervenções eficazes. Como mencionado na revisão bibliográfica, a superlotação não seria um problema recorrente na segurança máxima, embora seja um desafio presente no sistema prisional como um todo. Ela facilita as ações criminosas e o crescimento do poder das organizações, embora a corrupção seja, de fato, uma questão mais grave. O estudo de Corrales e Freeman (2024) destaca que o crime organizado possui recursos e capacidades que rivalizam com os de um Estado, incluindo poder militar, controle territorial e acesso a mercados.
Nessa mesma perspectiva, o estudo de Cantanhede et al. (2025) explica que há uma crescente infiltração dessas organizações em instituições públicas e privadas, comprometendo a segurança e a ordem social. No contexto das próprias limitações jurídicas quanto à efetividade das medidas de segurança máxima, o estudo de Peirce e Fondevila (2020) explica que a presença de facções dentro das prisões muitas vezes preenche lacunas deixadas pelo Estado, criando sistemas internos de controle e hierarquia.
O fenômeno da globalização intensificou as trocas e a complexidade das relações negociais humanas e, consequentemente, possibilitou o avanço do crime organizado e seu poderio econômico, dificultando cada vez mais o seu combate. Assim, diante da insuficiência do direito penal tradicional para lidar com o frequente problema, buscou-se solucioná-lo por meio da edição de novas leis, dentre elas a Lei nº 13.196/19, denominada “Pacote Anticrime” (Brasil, 2019).
A globalização, ao expandir as conexões e a complexidade das trocas comerciais e sociais, contribuiu significativamente para o fortalecimento do crime organizado, proporcionando novas formas de atuação transnacional e ampliando o poderio econômico das facções. O avanço das redes criminosas se torna cada vez mais desafiador para as instituições estatais, exigindo a adoção de estratégias mais amplas que incluam a cooperação internacional e o fortalecimento das legislações. Nesse contexto, a promulgação de novas leis, como a Lei n° 13.196/19, que endureceu a legislação contra organizações criminosas, é uma tentativa de adaptar a legislação brasileira à magnitude do problema. Contudo, é importante que tais reformas não apenas tratem da repressão, mas também considerem abordagens preventivas e integradas, como a educação e a inclusão social, que são fatores determinantes na diminuição da formação de novas facções.
Segundo Manso e Dias (2018), ao analisar a realidade brasileira, é possível afirmar que as formas mais eficazes de combate às facções criminosas são o isolamento de comunicação e a diminuição do poderio econômico dessas organizações. Nessa perspectiva, foi promulgada a Lei nº 13.196/19, que trouxe mudanças à Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850), com o objetivo de endurecer o tipo penal. Nesse contexto, Rodrigues, Gomes e Rodrigues (2024) destacam as mudanças significativas, como a possibilidade de prisão preventiva para garantir a ordem pública e a ampliação das hipóteses de cumprimento de pena em regime fechado.
Esse conjunto de estudos evidencia a complexidade do combate ao crime organizado no Brasil, apontando a necessidade de reformas estruturais que integrem segurança pública, políticas públicas eficazes e cooperação internacional. Dessa forma, o Estado tem implementado políticas de segurança pública focadas no combate às facções, incluindo operações de inteligência, ações policiais e reformas no sistema penitenciário. No entanto, essas medidas têm se mostrado insuficientes diante da complexidade e da adaptação das facções (Cantanhede et al., 2025).
Ao analisar em termos numéricos as fugas e rebeliões no ambiente prisional federal de segurança máxima, observa-se um certo sucesso dessa modalidade, conforme exposto por Cavalcanti Neto e Dantas (2024). No entanto, para além da detenção de criminosos perigosos, o sistema prisional tem como objetivo a ressocialização, e a falta de recursos acarreta na ineficácia dessa premissa por parte do Estado. A realidade, portanto, está distante da reabilitação, especialmente com o crescimento das organizações criminosas e a constante ocorrência de rebeliões nas prisões. Além disso, a disparidade entre o número de detentos e agentes prisionais resulta em um risco constante à segurança, gerando um ambiente instável para tentativas de fugas e rebeliões (Moura, 2020). O fortalecimento das facções também é impulsionado pela falta de políticas públicas eficazes, como a escassez de atividades educacionais e laborais, além da ausência de programas de reabilitação (De Andrade et al., 2023).
A falta de políticas públicas que auxiliem esses reeducandos pós-cumprimento da pena também é uma preocupação daqueles que trabalham com e em prol desse público, pois a falta de oportunidades de trabalho e de vida digna é o que muitas vezes leva esses reeducandos a se envolverem com o tráfico e a se identificarem com esse mundo que se apresenta, hoje, como garantia de dinheiro fácil e poder (De Andrade et al., 2023, p. 47).
Ao analisar as perspectivas e possibilidades de melhorias para o sistema penitenciário, especialmente para os regimes de segurança máxima, é possível afirmar que o fortalecimento desses regimes, aliado a medidas preventivas e de reintegração social, pode ser um caminho para minimizar a influência das facções e promover maior estabilidade tanto no sistema penitenciário quanto na sociedade como um todo.
No âmbito prisional, a institucionalização da Polícia Penal representa uma tentativa de fortalecer o controle sobre a criminalidade, tanto dentro quanto fora dos presídios. De Carvalho e De Castro Vieira (2020) analisam os impactos dessa medida na segurança pública, destacando os avanços e desafios que podem influenciar a eficácia do combate ao crime organizado. A criação da Polícia Penal pode representar um marco importante na estrutura de segurança, mas sua efetividade dependerá da alocação de recursos e da capacitação dos agentes.
Cantanhede et al. (2025) afirmam que é necessário adotar uma abordagem integrada, que combine ações repressivas com políticas de prevenção, educação e inclusão social. Investir em programas de reabilitação e reintegração dos detentos, além de fortalecer a participação comunitária, são passos essenciais para reduzir a influência das facções e promover a segurança pública.
Para além do sistema prisional, o estudo de De Andrade et al. (2023) sugere uma abordagem preventiva para a segurança pública, destacando que o Estado deve adotar estratégias voltadas para a educação e a oferta de empregos qualificados, a fim de reduzir a formação e o fortalecimento de facções criminosas dentro do sistema prisional.
PROPOSTAS PARA A MELHORIA DO MODELO ATUAL
Apesar das iniciativas voltadas à implementação de unidades de segurança máxima e do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), com o objetivo de isolar líderes de facções criminosas e enfraquecer suas operações dentro e fora das prisões, o Sistema Penitenciário Federal ainda enfrenta desafios significativos que comprometem sua eficácia. A segurança, embora avançada em alguns aspectos, é insuficiente quando se considera a complexidade das facções criminosas e as limitações estruturais do próprio sistema. Nesse contexto, é necessário repensar o modelo atual, buscando uma abordagem mais integrada e eficaz, que combine segurança, reabilitação e reintegração social dos detentos.
Primeiramente, é fundamental investir de forma substancial em programas educacionais e de qualificação profissional nas penitenciárias federais. A educação, em suas diversas modalidades, e a capacitação técnica são fatores essenciais para a reintegração dos detentos à sociedade, após o cumprimento da pena. A ampliação de cursos técnicos, de ensino fundamental e médio, assim como a criação de parcerias com empresas para oferecer oportunidades de trabalho nas unidades prisionais, contribuiria para que os apenados desenvolvessem habilidades que os preparassem para o mercado de trabalho, reduzindo as chances de reincidência criminosa. A qualificação profissional, em especial, poderia atuar como um fator preventivo contra a marginalização social dos egressos do sistema penitenciário, preparando-os para uma reintegração mais digna e produtiva.
Além disso, a infraestrutura do sistema penitenciário precisa ser significativamente aprimorada, com a construção de novas unidades prisionais e a modernização das existentes. A superlotação, um problema recorrente no sistema penitenciário brasileiro, deve ser enfrentada por meio de uma expansão planejada das unidades, principalmente das de segurança máxima. O aumento do número de unidades adequadas à contenção de facções criminosas e a melhoria das condições estruturais das penitenciárias estaduais, muitas vezes precárias, são ações necessárias para garantir o bom funcionamento do modelo de segurança atual. Além disso, a ampliação da capacidade de controle e vigilância, tanto física quanto tecnológica, permitirá que o sistema penitenciário enfrente de forma mais eficaz as estratégias de adaptação das facções criminosas.
Outro ponto crucial é a capacitação e valorização dos agentes penitenciários. A atuação dos profissionais responsáveis pela segurança dentro das unidades de segurança máxima exige uma formação especializada, que vá além do treinamento básico. O desenvolvimento de competências em áreas como gestão de crises, negociação e mediação de conflitos, bem como o aprimoramento constante das habilidades de segurança, são necessários para garantir um ambiente controlado e seguro. A criação de programas de capacitação contínua, juntamente com o aumento da valorização profissional, por meio de melhores condições de trabalho e remuneração, é essencial para assegurar que esses agentes estejam devidamente preparados para lidar com as complexas situações que surgem nas penitenciárias de segurança máxima.
No que diz respeito à reintegração social, a construção de um ambiente que favoreça o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos detentos é fundamental. Programas que incentivem as visitas regulares e o uso de tecnologias de comunicação, como videoconferências, podem diminuir o distanciamento emocional e psicológico dos presos, contribuindo para um processo de reintegração mais saudável. Além disso, a criação de estratégias pós-penitenciárias, com apoio psicológico, orientação jurídica e acompanhamento social, é essencial para a reintegração dos ex-detentos. A assistência contínua após o cumprimento da pena é determinante para evitar a reincidência e a volta ao mundo do crime.
Ademais, é imprescindível adotar uma abordagem integrada entre segurança pública e políticas de justiça social. A solução para o problema da criminalidade não deve se limitar a medidas repressivas, mas sim integrar ações preventivas e sociais. A articulação entre o sistema penitenciário, as políticas públicas de educação, de geração de empregos e de redução das desigualdades sociais é imprescindível. Programas que atendam à juventude em situação de vulnerabilidade, aliados a uma maior inclusão social, podem reduzir o recrutamento de novos membros pelas facções criminosas, enfraquecendo o poder dessas organizações tanto dentro quanto fora das prisões.
Além disso, é necessário aprimorar os mecanismos de monitoramento e de inteligência dentro das penitenciárias. As facções criminosas têm se adaptado às condições impostas pelo modelo de segurança, utilizando tecnologias e estratégias de comunicação para manter o controle externo das suas atividades. A implementação de sistemas de monitoramento mais eficientes, incluindo o uso de tecnologias de bloqueio de sinais e vigilância digital, é urgente para evitar a comunicação ilegal entre os presos e suas organizações criminosas. O fortalecimento das redes de inteligência penitenciária, com informações integradas e um controle mais rigoroso das visitas, é essencial para combater a expansão das facções dentro do sistema penitenciário.
Portanto, as propostas apresentadas buscam não apenas fortalecer o controle sobre as facções criminosas, mas também proporcionar condições adequadas para a ressocialização dos detentos. A melhoria do modelo de segurança máxima passa por uma reestruturação do sistema penitenciário, que combine segurança rigorosa com políticas de reabilitação e reintegração social. Somente com um equilíbrio entre segurança, educação e inclusão social será possível garantir a redução da influência das facções criminosas, a recuperação efetiva dos detentos e a prevenção de futuras gerações de criminosos, estabelecendo um ciclo virtuoso para a sociedade como um todo
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Sistema Penitenciário Federal (SPF) e as medidas de segurança máxima, como o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), têm desempenhado um papel significativo na tentativa de isolar líderes de facções criminosas e enfraquecer suas operações tanto dentro quanto fora das prisões. As penitenciárias federais, como o Presídio Federal de Catanduvas, são projetadas para garantir o controle de presos de alta periculosidade, dificultando suas comunicações e atividades ilícitas. Contudo, o modelo de segurança adotado ainda enfrenta desafios consideráveis que comprometem sua eficácia.
Embora as unidades federais apresentem um nível de segurança superior em comparação com as estaduais, o sistema penitenciário como um todo é afetado por fatores como a superlotação e a escassez de recursos. A quantidade limitada de agentes penitenciários e a falta de infraestrutura adequada dificultam o controle sobre as facções, permitindo que essas organizações criminosas se reconfigurem e se fortaleçam dentro do próprio sistema. A corrupção interna e as brechas no sistema de segurança também contribuem para a perpetuação do poder dessas facções.
Além disso, a política de segurança máxima, por mais rígida que seja, não resolve completamente a questão da ressocialização dos detentos. O foco excessivo no isolamento e na contenção física dos presos, sem a implementação de programas de reabilitação e reintegração social, tende a manter o ciclo de criminalidade. A falta de oportunidades para educação, qualificação profissional e apoio psicológico dentro do sistema penitenciário agrava essa situação, tornando ainda mais difícil a transformação dos detentos em cidadãos aptos a se reintegrarem à sociedade após cumprirem suas penas.
A solução para aumentar a eficácia do sistema penitenciário federal não se limita ao aumento da repressão e ao isolamento dos presos. É fundamental que sejam implementadas políticas públicas focadas na educação e na reintegração dos detentos. A reintegração social deve ser entendida como um pilar central do processo penal, possibilitando que os detentos abandonem comportamentos criminosos e se tornem cidadãos capazes de contribuir positivamente para a sociedade.
Portanto, é imprescindível que o Brasil repense a gestão de seu sistema penitenciário, adotando um modelo mais integrado, que equilibre segurança, ressocialização e prevenção. Investimentos em infraestrutura, capacitação dos agentes penitenciários, controle rigoroso de visitas e a implementação de programas educativos são essenciais para reduzir a influência das facções criminosas e melhorar as condições do sistema como um todo. Apenas por meio de uma abordagem mais equilibrada e eficaz será possível garantir que o sistema penitenciário cumpra adequadamente suas funções de segurança e ressocialização, sem ser dominado pelas organizações criminosas.
Além da urgência de repensar o modelo de gestão do sistema penitenciário, é fundamental que o Brasil busque, dentro de suas políticas públicas, um alinhamento mais claro entre as diversas esferas de poder, tanto federal quanto estadual, no enfrentamento do crime organizado. A implementação de uma estratégia nacional de segurança pública, que envolva desde a prevenção até a reintegração social dos detentos, é crucial. A integração das forças de segurança, a construção de redes de inteligência que envolvam diferentes países e a oferta de alternativas reais para a reintegração dos ex-detentos à sociedade são componentes essenciais para o sucesso da política de segurança. O Estado deve, então, não apenas atuar no combate direto ao crime, mas também fomentar políticas públicas que atuem nas causas estruturais da criminalidade, como a pobreza, a falta de educação e a marginalização social.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto De 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm. Acesso em: 17 fev. 2025.
BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm. Acesso em: 17 fev. 2025.
BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 17 fev. 2025. BRASIL. Ministério da Justiça. Decreto 6.049, de 27 de fevereiro de 2007. Aprova o Regulamento Penitenciário Federal. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6049.htm. Acesso em 19 fev. 2025.BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Sistema Penitenciário Federal. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/senappen/pt-br/assuntos/SPF. Acesso em: 19 fev. 2025.CANTANHEDE, T. C. C.; BARROS, V. R. da S.; LUSTOSA, T. F. M.; MEIRELES, J. D. C.; OLIVEIRA, L. C. C. de; BATISTA, E. C.; SANTOS, K. de O. O domínio das facções nos presídios brasileiros: desafios e perspectivas para a segurança pública. Contribuciones a Las Ciencias Sociales, [S. l.], v. 18, n. 2, p. e15145, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.2-013. Disponível em: https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/15145. Acesso em: 19 fev. 2025.CAVALCANTI NETO, Ademar Araújo; THOMAS KEFAS DE SOUZA, DANTAS. O sistema penitenciário brasileiro de segurança máxima: caso Mossoró. Revista Brasileira de Desenvolvimento e Inovação, [S. l.], v. 1, n. 1, 2024. Disponível em: https://rbdin.com.br/index.php/revista/article/view/23. Acesso em: 19 fev. 2025.
CERQUEIRA, P. de O.; TOURINHO, L. Direito humano e fundamental à saúde nos presídios federais Brasileiros e a teoria da transnormatividade / Human and fundamental right to health in Brazilian federal prisons and the theory of transnormativity. Brazilian Journal of Development, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 848–863, 2018. DOI: 10.34117/bjdv5n1-1002. Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/1002. Acesso em: 19 feb. 2025.
CHWIEJ, E. Os esforços para combater o crime organizado no Brasil. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio L – Artes, v. 7, p. 279-296, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.17951/al.2019.7.279-296. Acesso em: 17 fev. 2025.
CORRALES, J.; FREEMAN, W. Como o crime organizado ameaça a América Latina. Journal of Democracy, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1353/jod.2024.a937740. Acesso em: 19 fev. 2025.
DE ANDRADE CARNEIRO, L.; DE CÁSSIA MARTINS DOS SANTOS, F.; TOLINTINO DE SOUZA, L. A atuação do crime organizado a partir do Sistema Prisional: uma revisão da literatura. Revista do Instituto Brasileiro de Segurança Pública (RIBSP) – ISSN 2595-2153, [S. l.], v. 5, n. 12, p. 38–54, 2023. DOI: 10.36776/ribsp.v5i12.185. Disponível em: https://revista.ibsp.org.br/index.php/RIBSP/article/view/185. Acesso em: 19 fev. 2025.
DE CARVALHO, V.; DE CASTRO VIEIRA, A. Polícia Penal no Brasil: realidade, debates e possíveis reflexos na segurança pública. Revista Brasileira de Execução Penal, v. 1, p. 273-297, 2020. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Facademiavaiaocarcere.mpba.mp.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FPolicia-Penal-no-Brasil.pdf&psig=AOvVaw16bNNsleevOB3kuQnOsBVu&ust=1740087754551000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjwsraV2tCLAxUAAAAAHQAAAAAQBw. Acesso em: 19 fev. 2025.
DE SOUZA, A.; TEIXEIRA, S.; DA SILVA, L.; NANTES, R.; PAULETTO, G. A Teoria do Isolacionismo como Instrumento de Política Criminal e o Enfrentamento do Crime Organizado no Brasil. International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.22161/IJAERS.84.1. Acesso em: 17 fev. 2025.
FERNANDES, R. B. de O. Prisões de segurança máxima: Origem histórica e discussões atuais. Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 146–160, 2019. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/redppc/article/view/95530. Acesso em: 19 fev. 2025.
FERREIRA, Ana Beatriz da Silva; COSTA, Flávio Fernandes. A efetividade do modelo de segurança máxima em presídios federais: intenção que gera efeitos contraditórios. RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar – ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 5, n. 1, p. e515834, 2024. DOI: 10.47820/recima21.v5i10.5834. Disponível em: https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/5834. Acesso em: 19 fev. 2025.
GIL, Antonio Carlos; VERGARA, Sylvia Constant. Tipo de Pesquisa. 2015.
GUERREIRO, K. Crime e Grupos Armados na Amazônia Internacional e Legal. Pesquisa Acadêmica e Aplicada em Ciência Militar e Gestão Pública, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.32565/aarms.2021.2.ksz.8. Acesso em: 19 fev. 2025.
KOSMYNKA, S. O problema do crime organizado na área da Tríplice Fronteira Sul-Americana: Paraguai, Brasil e Argentina. Estudos Internacionais. Revista Interdisciplinar Política e Cultural, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.18778/1641-4233.25.02. Acesso em: 19 fev. 2025.
MAGALONI, B.; FRANCO-VIVANCO, E.; MELO, V. Matar nas favelas: ordem social, governança criminal e violência policial no Rio de Janeiro. American Political Science Review, v. 114, p. 552-572, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1017/S0003055419000856. Acesso em: 19 fev. 2025.
MANSO, Bruno Paes; DIAS, Camila Nunes. A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. São Paulo: Todavia, 2018.
MOSCA, Leonardo Schmitz; SILVA, Luiz Pedro Couto Santos; ALMEIDA, Eduardo Simões de; JORGE, Marco Antonio. Efeitos de presídios de segurança máxima na criminalidade local: Evidências de Catanduvas. Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos – ABER, In: XX ENABER – Belém, 2023.
MOURA, Igor de Andrade. Organizações Criminosas: em que medida a presença das organizações criminosas prejudicam a estruturação e a aplicação das regras no Sistema Prisional. (Análise de caso Primeiro Comando da Capital – PCC). Centro Universitário de Brasília – UNICEUB Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais – FAJS. BRASÍLIA, 2020.
NUNES, Walter. Sistema Penitenciário Federal: o regime prisional de líderes de organizações criminosas. Revista brasileira de execução penal-RBEP, v. 1, n. 2, p. 101134, 2020.
PASSOS, A. Combate ao crime e manutenção da ordem: visões de mundo compartilhadas das elites civis e militares no Brasil e no México. Third World Quarterly, v. 39, p. 314-330, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1374836. Acesso em: 19 fev. 2025.
PEIRCE, J.; FONDEVILA, G. Violência concentrada: a influência da atividade criminosa e da governança na violência prisional na América Latina. International Criminal Justice Review, v. 30, p. 130-199, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1177/1057567719850235. Acesso em: 19 fev. 2025.
PRESSUTO, Heber Carvalho. Apontamentos sobre o sistema penitenciário federal e o equilíbrio entre segurança pública e as garantias individuais. Revista de Ciências Jurídicas e Sociais – IURJ, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 122–141, 2021. DOI: 10.47595/cjsiurj.v2i3.84. Disponível em: https://revista.institutouniversitario.com.br/index.php/cjsiurj/article/view/84. Acesso em: 19 fev. 2025.
RODRIGUES, G. L. M. T.; GOMES, I. F.; RODRIGUES, M. de S. A modernização da política de segurança como blindagem ao crime organizado. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 6, p. 156-173, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i6.14326. Disponível em: https://doi.org/10.51891/rease.v10i6.14326. Acesso em: 19 fev. 2025.
ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução penal: teoria crítica. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.
SANTOS, Ívinna Ellionay Alves. A corrupção e as facções criminosas no Sistema Prisional Estadual do Rio Grande do Norte. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Direito. Natal, RN, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/54375/1/Corrupcaofaccoescriminosas_Santos_2023.pdf. Acesso em: 17 fev. 2025.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. Cortez editora, 2017.
SULLIVAN, J. Guerras criminosas: Perspectivas operacionais sobre grupos armados criminosos no México e no Brasil. International Review of the Red Cross, v. 105, p. 849-875, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1017/S1816383122000558. Acesso em: 19 fev. 2025.
TORQUATO, Cristiano Tavares. Qual o Futuro do Sistema Penitenciário Federal? Segurança Pública & Cidadania, v. 6, n. 1, 2015.
TORRES, Eli Narciso da Silva. A institucionalização da Inteligência penitenciária nacional: o combate à Organizações Criminosas e o caso “Primeiro Comando da Capital (PCC)” nas prisões brasileiras. 2020.
VILLANI, S.; MOSCA, M.; CASTIELLO, M. Uma combinação virtuosa de análise estrutural e de habilidades para derrotar o crime organizado. Socio-Economic Planning Sciences, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/J.SEPS.2018.01.002. Acesso em: 19 fev. 2025.
VILLELA, Gabriela Rocha; et al. A política criminal e o sistema carcerário brasileiro. Jornal Eletrônico Faculdades Integradas Vianna Júnior, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 19, 2019. Disponível em: https://jornaleletronicofivj.com.br/jefvj/article/view/704. Acesso em: 17 fev. 2025.
ZARETE, Claudia Creplive. Cooperação no combate ao crime organizado: Sistema Penitenciário Federal como mecanismo de segurança pública e efeitos para a segurança e defesa nacional. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialista) – Altos Estudos em Defesa. Escola Superior de Defesa, Brasília, 2021. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepositorio.esg.br%2Fbitstream%2F123456789%2F1416%2F1%2FCLAUDIA%2520CREPLIVE%2520ZARATE%2520%252836S%2529.pdf&psig=AOvVaw3tRSf4JXk2C98i7V9LzEzU&ust=1740083928196000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwiI8__1y9CLAxUAAAAAHQAAAAAQBA. Acesso em: 19 fev. 2025.
Referencias
Share this :
Área do Conhecimento