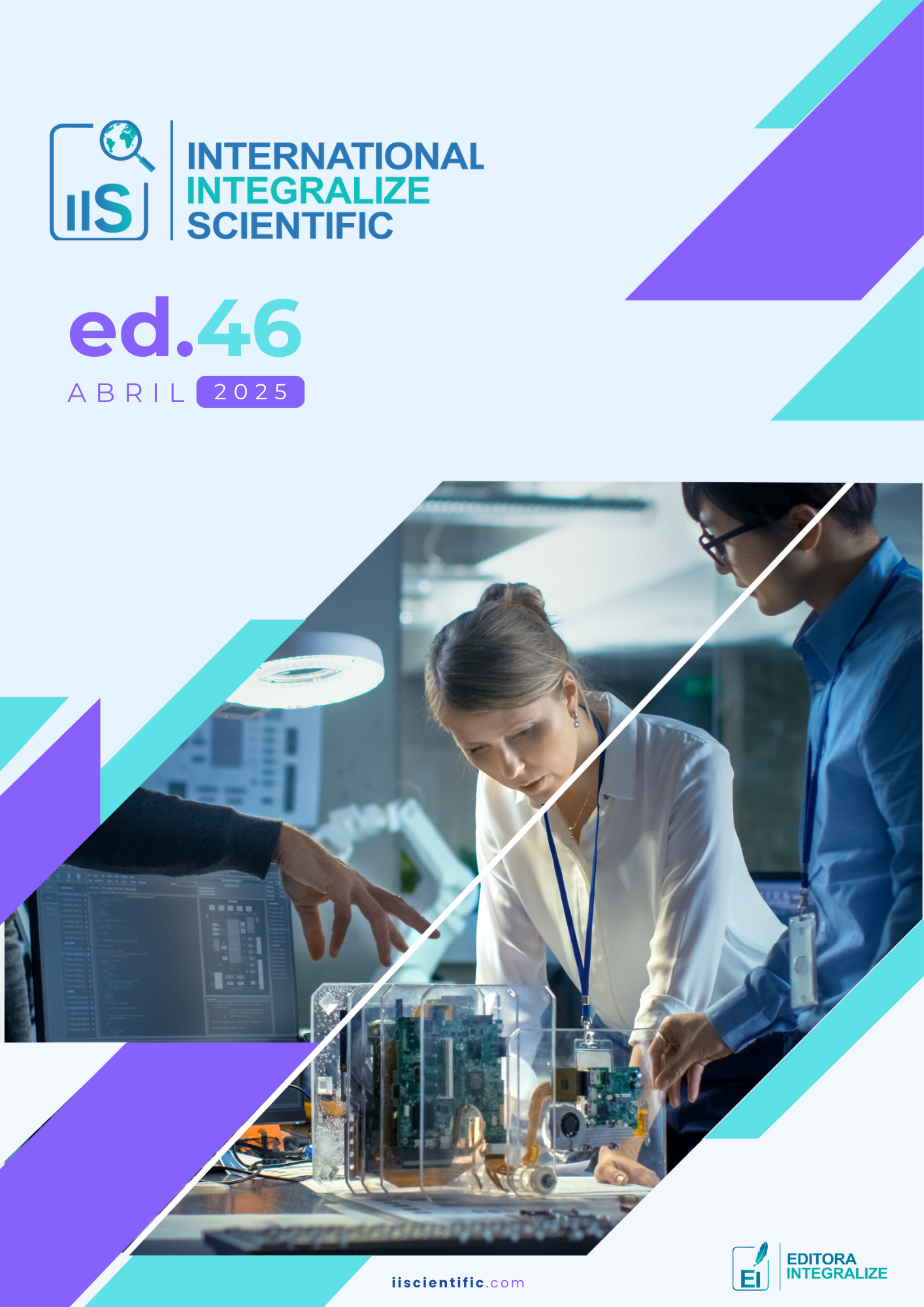Espécies da vegetação arbórea da caatinga: Características e utilidades
SPECIES OF CAATINGA TREE VEGETATION: CHARACTERISTICS AND USES
ESPECIES DE VEGETACIÓN DE ÁRBOLES DE CAATINGA: CARACTERÍSTICAS Y UTILIDADES
Autor
Prof. Dr. Ederson Renan Pacheco Farias
Resumo
Summary
Resumen
INTRODUÇÃO
A flora da Caatinga é muito rica e diversa, sendo uma das principais zonas de concentração de espécies endêmicas do Brasil. A principal característica das plantas locais é a alta capacidade de adaptação ao regime pluviométrico desse bioma, caracterizado pelo diminuto volume de chuvas. Desse modo, a maioria das plantas locais possui estruturas físicas que diminuem a perda de água para o ambiente. A principal característica da flora da Caatinga é a condição de sobrevivência dessas plantas, as quais estão submetidas ao clima seco e com pouca quantidade de água. Mesmo nessas circunstâncias, a caatinga é um local propício para o crescimento e desenvolvimento de diversas espécies de vegetais. Caracterizado por possuir uma diversa composição vegetal, constituído de florestas arbórea-arbustiva com frequente presença de cactos, bromélias e estrato herbáceo no período chuvoso, essa diversidade se deve às variações climáticas, topográficas e geomorfológicas, bem como ação antrópica (Araújo Filho, 2014; Fernandes; Queiroz, 2018).
Por se tratar do Bioma Caatinga, os fatores topográficos relacionados à sua vegetação típica ainda são pouco conhecidos, assim, estudos neste sentido são de grande relevância contribuindo para melhor compreensão dos aspectos físicos e naturais dentro do contexto da Caatinga, um dos menos estudados e mais complexos Biomas brasileiros. Embora se reconheçam os dados topográficos como significativa fonte de informações para subsidiar o mapeamento da vegetação, o estabelecimento de metodologias com este aporte requer o desenvolvimento de estudos específicos para determinar as relações que existem entre ambos os aspectos, condição que pode ser explicada por uma história de ausência de levantamentos topográficos detalhados, pela qual grande parte do território nacional permanece com mapeamentos em escalas inadequadas para várias aplicações.
Está localizado principalmente nos estados do Nordeste como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Além disso, abrange também parte do estado de Minas Gerais, fazendo da Caatinga um bioma que está presente em 11% do território brasileiro. Porém dentre a vegetação que compõem a caatinga, apresentam características típicas como: árvores de cascas grossas; as hastes das árvores possuem espinhos; as folhas são pequenas e as raízes são tuberosas para armazenar água. De forma geral a vegetação da Caatinga é formada por três grupos, sendo elas: Arbóreo (representa as árvores que apresentam de 8 a 12 metros de altura); Arbustivo (representa a vegetação que apresenta de 2 a 5 metros de altura); Herbáceo (representa a vegetação que apresenta menos de 2 metros de altura). Dentre essas formações vegetais da caatinga, o foco do presente trabalho está em uma das formações menos extensas de vegetais que é a Caatinga Arbórea. Porém, estima-se que há um número muito maior de espécies vegetais e animais que ainda não foram catalogadas.
DA SELEÇÃO DAS ESPÉCIES
Para a escolha das espécies devem-se levar em consideração dois aspectos principais: o ecológico e o socioeconômico. O primeiro com base em um levantamento botânico realizado em diversas áreas de caatinga arbórea. O outro realizado entre as comunidades locais, descrevendo a importância socioeconômica de algumas espécies para região. A seguir, são apresentadas algumas características das espécies selecionadas:
CENOSTIGMA PYRAMIDALIS (TUL.)
Árvore de porte médio, a Catingueira é encontrada em várzeas úmidas ou no Seridó semiárido, com cheiro característico nas folhas quando esmagadas, casca acinzentada, quase lisa e vagens achatadas com ápice agudo que se contorcem ao liberar as sementes (Maia, 2012). Pertencente à família Fabaceae, gênero Cenostigma Tul, recebendo o nome científico Cenostigma pyramidalis (Tul.) Gagnon & G.P. Já apresentou outros nomes como Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. Queiroz, tendo como basiônimo Caesalpinia pyramidalis Tul, (Trópicos, 2020). Possui nomes populares atribuídos devido ao odor desagradável de suas folhas: Catingueira, Catinga-de-porco, Catingueiro-das-folhas-largas, Pau-de-porco, Pau de rato (CNIP, 2020).
Devido ao seu crescimento rápido, essa espécie pode ser utilizada em reflorestamentos de áreas degradadas e também em projetos de paisagismo urbano (Silva et al., 2012). Pode ser manejada, através da poda, para produzir forragem durante a época seca, quando normalmente se encontra sem folhas. As folhas desta espécie, quando submetidas a processo de fenação, oferecem uma massa forrageira volumosa e bastante nutritiva (Loiola et al., 2010).
Importante fonte de recursos para algumas abelhas que são seus principais polinizadores. Outros visitantes florais também coletam néctar das flores de catingueira como, por exemplo, borboletas, beija-flores e abelhas sem ferrão. Recomenda-se o plantio de mudas de catingueira em áreas de criação e conservação de abelhas nativas (Silva et al., 2012).
Encontrada nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe (CNIP, 2020).
COMMIPHORA LEPTOPHLOEOS (MART.)
Planta muito popular da Caatinga, a Imburana se mostra muito presente na cultura, nos remédios e utensílios regionais em todo o sertão brasileiro, sendo uma árvore muito usada e conhecida. A Imburana possui o nome científico Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillet e pertence à família Burseraceae. Sinônimos: Bursera leptophloeos Mart; Bursera martiana Engl.; Icica leptophloeos Mart. (Maia, 2012).
Amburana, amburana-de-cambão, umburana, imburana, imburana-brava, imburana-de-cambão, imburana-de-espinho, imburana-fêmea, imburana-vermelha, umburaninha, amburana, umburana, imburana-de-espinho, imburana-vermelha. A espécie Imburana é utilizada no preparo de xarope (contra tosses e bronquites), tônico, e cicatrizante, no tratamento de feridas, gastrite e úlceras (CNIP, 2017a). Bastante empregada localmente para a escultura primitiva, confecção de objetos e utensílios caseiros, como cangalha ou cambão (usados para impedir que animais atravessem cercas). Devido a suas características, a espécie é muito recomendada para arborização. Sua madeira é usada também na marcenaria, na fabricação de móveis e em serviços leves, como obras de entalhe, caixotaria, objetos e utensílios caseiros e na construção civil, em portas, janelas e esquadrias, além de ser usada como estaca em obras externas (Carvalho, 2009).
Commiphora leptophloeos é considerada uma espécie chave para a manutenção das abelhas nativas. Várias espécies de abelhas sociais, e também solitárias, constroem seus ninhos em ocos existentes nos seus troncos. Ninhos de abelhas sem ferrão, como da espécie Melipona subnitida (jandaíra), são frequentemente encontrados nessas árvores. Portanto, o uso da imburana para a recomposição de áreas degradadas favorece a meliponicultura do Nordeste. A Imburana tem ocorrência, no Nordeste brasileiro, nas Caatingas arbóreo-arbustivas de terrenos calcários e também no Pantanal Mato-grossense, nas matas chaquenhas. É também frequente no vale médio do rio São Francisco.
HYMENAEA SP
O jatobá (nome científico Hymenaea sp.) é encontrado na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal e no Cerrado com ocorrências do Piauí até o Paraná. A origem de seu nome vem do tupi e quer dizer “árvore com frutos duros”. No passado, foi muito utilizada pelos povos indígenas em momentos de meditação. Assim, o jatobazeiro passou a ser considerado um patrimônio sagrado brasileiro. Ainda hoje, sua farinha é bastante consumida no meio rural, seja na forma natural ou na forma de pães, biscoitos, bolos, batida com leite ou como ingrediente em vitaminas de frutas.
Apesar de apresentar um crescimento lento, a árvore alcança até 40 metros de altura e tem um tronco com diâmetro de quase um metro. Sua madeira é bastante utilizada para construção em vigas, portas, tacos, tábuas, além de ser empregada em objetos de arte, peças decorativas e móveis de luxo. Por esse motivo, é uma das madeiras mais valiosas do mundo. No Brasil é encontrado desde o norte ao sudeste; na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica e no Pantanal. Ocorre naturalmente em solos argiloso, pobres e em lugares bastante ensolarados, em várzeas altas, raramente em campos abertos, entretanto, com precipitação anual superior a 100 milímetros É a espécie dominante da floresta estacional semidecidual, sendo também encontrada na floresta ombrófila densa da Mata Atlântica, na floresta estacional decidual.
Seu fruto fica maduro entre os meses de julho a setembro, possui casca dura e em média duas sementes por fruto. No interior, a polpa é um pó verde amarelado com forte odor, que é comestível. A polpa é rica em ferro e é indicada para pessoas que apresentam alto grau de anemia. A casca também é aproveitada para chá. É uma planta com uso medicinal e pesquisas atuais indicam que o jatobá pode ser utilizado para combater alguns tipos de câncer. A seiva do jatobá é obtida por meio da perfuração do tronco e é utilizada tradicionalmente como curativa para diversas enfermidades, incluindo a anemia, convalescença e problemas pulmonares.
MANIHOT PSEUDOGLAZIOVII:
Manihot pseudoglaziovii Pax & K. Hoffm. Maniçoba) é uma planta de porte arbustivo nativa da caatinga, pertencente à família euphorbiaceae, secção Glazioviana, encontrada em diversas áreas que compõem o semiárido nordestino e também do centro-oeste. É uma árvore de 8 a 12 metros de altura, vegetando em diversos tipos de solo, tanto calcários e bem drenados, como também naqueles pouco profundos e pedregosos, das elevações e das chapadas. Possui grande resistência à seca por apresentar raízes com grande capacidade de reserva, mais desenvolvidas que as da mandioca, sua parente próxima. Assim como os demais vegetais do gênero manihot, apresentam na sua composição substâncias que, ao hidrolisar-se dão origem ao ácido cianídrico, ofensivo a todas as espécies animais, podendo-os levar à morte dependendo da quantidade consumida. No entanto, esta planta possui uma boa composição nutritiva, podendo ser considerada como uma forrageira de boa qualidade, sendo a fenação e a ensilagem, após a trituração de todo o material forrageiro produzido, os meios mais recomendados de utilização da maniçoba. Pesquisadores incentivam o plantio da maniçoba com o intuito de produção de forragem.
As folhas são verde-claras, abaxial mente reticulada, axialmente verde, são simples, palmatórias, palmatinérvea ovais e desprovidas de pelos. A lâmina foliar é coriácea de margem inteira com cinco lóbulos de ápice agudo separados nos sinus, apresentam estípulas caducas e pecíolo cilíndrico inserido na porção inferior da lâmina.
A exploração das maniçobas no Nordeste, para a produção de borracha, inscreveu-se em limites históricos bastante precisos. A exploração das maniçobas para a produção láctea tornou-se economicamente viável com os altos preços internacionais da borracha, na segunda metade do século XIX e início do XX, impulsionados pela demanda dos países industrializados, sobretudo a Inglaterra, que constituía o principal centro comprador e distribuidor dessa matéria-prima. O incremento na procura e a correspondente alta dos preços estão intimamente ligados ao crescimento das indústrias automobilística e elétrica, sobretudo a primeira, em franca expansão no início do século.
Dessa forma o desempenho do setor industrial na Europa e nos Estados Unidos da América, refletia-se no comportamento da produção gomífera do Brasil, então principal área produtora e em cuja dependência estavam aqueles mercados. O quase monopólio que exercia o Brasil sobre o fornecimento de borracha – matéria-prima estratégica no início do século, pelas características e exigências do processo de industrialização assegurou a manutenção de um nível extremamente alto dos preços internacionais. Sem essa conjuntura de preços não teria sido possível a inserção do Nordeste como área produtora, pela falta de rentabilidade na exploração das maniçobas. Vale lembrar que a produção da borracha no Nordeste era secundária, não só em relação ao conjunto da produção mundial, como em relação à produção brasileira, o que a tornava mais vulnerável às alterações na demanda.
SPONDIAS TUBEROSA ARRUDA
Família: Anacardiaceae. Nome popular: umbuzeiro, umbuzeiro, umbu. O nome umbuzeiro é derivado da palavra tupi-guarani “y-mb-ú”, que significa “árvore que dá de beber”. É uma espécie endêmica do Brasil, que ocorre nos biomas Caatinga e Cerrado, preferencialmente nas áreas de clima semiárido. Floresce entre os meses de setembro e dezembro e frutifica entre dezembro e maio, conforme o banco de dados do Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental (NEMA) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
É encontrado na região Nordeste nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe; e também no Sudeste, nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (Flora do Brasil 2020 em construção). Com copa ampla e densa, formada por um grande número de galhos, o umbuzeiro atinge entre 4 e 7 m de altura. Possui casca acinzentada e os ramos velhos possuem fissuras, as flores são brancas, pequenas e perfumadas e fruto arredondado. Seus frutos são utilizados para fabricação de doces, geleias, sucos, picolés, sorvetes, compotas e umbuzada (polpa do umbu cozida com leite e açúcar), são comercializados no mercado interno e externo, tornando-se uma das espécies frutíferas mais difundidas e estudadas no semiárido brasileiro.
Suas raízes possuem estruturas que servem de reservatórios de água, chamadas de xilopódios, que auxiliam a planta nos períodos mais secos. São usados pela população para produção de doces e picles. As folhas e raízes também servem para alimentação de animais. Já os ramos e as cascas costumam ser usados na medicina popular, como cicatrizantes e digestivos (Oliveira, V., R. et al., 2018).
ZIZIPHUS JOAZEIRO MART
Magnoliophyta (Angiospermae); Classe Magnoliopsida (Dicotyledonae); Ordem Rhamnales Família Rhamnaceae; Gênero Ziziphus.
É uma árvore presente na caatinga, amplamente conhecida por seus frutos e principalmente por oferecer vasta sombra durante todo o ano. Joá, juazeiro, juá, juá-bravo, juá-de-boi, juá-espinho, juá-fruta, juá-mirim, laranjeira-de-vaqueiro, líquida (nome dado pelos índios carijós) (MAIA, 2004).
O juazeiro é utilizado para restauração florestal e em sistemas agroflorestais. Árvore com características apícolas, também pode ser empregada no paisagismo de cidades por apresentar frondosa copa com ampla sombra. As folhas do juazeiro estão presentes durante todo o ano e junto com os frutos são amplamente usadas como forragem para caprinos, ovinos e suínos e, até, pelos cães.
Trata-se, também, de uma espécie produtora de lenha (Conceição e Paula, 1986). A madeira dessa espécie é empregada localmente para diversas finalidades, como cabos de ferramenta, canis, tarugo ou prego de madeira, para construções rurais, moirões e em marcenaria (Carvalho, 2007).
Trata-se de uma espécie perenifólia, característica e exclusiva de várzeas da região semi árida (Caatinga). Seu profundo sistema radicular permite retirar água do subsolo para manter-se verde durante o período de estiagem.
Mantém a folhagem verde durante todo o ano, podendo apresentar uma redução nos anos mais secos ou, antes do início da floração. A planta pode perder as folhas durante o período de estiagem. Renova a folhagem em outubro, no maior vigor da seca. A floração ocorre no final da estação seca e início da estação chuvosa e a frutificação ocorre na estação chuvosa (Maia, 2004).
O Juazeiro ocorre de forma natural no Brasil, nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia (Carvalho, 2007).
MYRACRODRUON URUNDEUVA ALLEMÃO
Pertencente à família das anacardiaceae, aroeira é uma árvore nativa de grande porte, pode atingir até 30m de comprimento. Decídua na estação seca, essa espécie consegue se adaptar a diferentes condições climáticas, desde formações secas como a caatinga, até formações densas e úmidas como florestas pluviais. Sua distribuição se estende por boa parte do País, além de Argentina, Paraguai e Bolívia. Essa planta tem um enorme potencial fitoterápico, agindo como antimicrobiano, anti-inflamatório, cicatrizante, atua no tratamento de ferimentos, gastrites, cervicite vaginal e doenças hemorroidárias. Todos esses benefícios devem-se aos taninos e fenóis encontrados no extrato de suas folhas, raízes, cascas e entrecascas, os quais são utilizados como banhos de assento, chás e uso tópico. É válido ressaltar que como toda medicação, seu uso deve ser sempre orientado por um profissional da área da saúde, a fim de evitarmos intoxicações e interações medicamentosas.
Outra propriedade bastante apreciada é sua madeira, principalmente, em produções externas como moirões, estacas, postes e pontes. Tal apreço, deve-se a sua alta densidade, baixa permeabilidade, fatores físico, químicos e biológicos que lhe garante boa resistência e durabilidade. Porém, toda essa rigidez e resiliência não foram suficientes para que essa espécie saísse ilesa das sucessivas investidas da exploração predatória. Fazendo com que essa variedade conste, hoje em dia, na lista de espécies ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente.
ANADENANTHERA PEREGRINA
O Angico Branco faz parte da família (Mimosoideae – Leguminosae). Arvoreta perenifólia de Angico Branco, com 2,2 a 15 m de altura e 20 a 40 cm de diâmetro, a árvore com até 25 m de altura e 60 cm de diâmetro. Folhas com folíolos coriáceos, nítidos, frequentemente falados, pincéis com 10 a 18 jogos, folíolos com 40 a 60 jogos, inervados, nítidos e glabros. As flores são reunidas em inflorescências e os frutos são de coloração marrom, com 10 a 25 cm de comprimento e 17 a 25 mm de largura, contendo entre 10 e 15 sementes. Ocorre de forma natural nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal.
Possui superfície lustrosa e lisa ao tato; cheiro indistinto e sabor fracamente adstringente. Própria para construção civil, produção de celulose e lenha. Além disso, a partir da casca pode ser extraído corante utilizado em tinturaria.
Espécie pioneira, comum na vegetação secundária, principalmente na fase de capoeira. A floração ocorre entre os meses de setembro a novembro em São Paulo e em dezembro nos demais estados. A frutificação, por sua vez, ocorre de agosto a novembro, no Paraná e em São Paulo. O processo reprodutivo, em plantios, inicia por volta dos cinco anos de idade.
As espécies de árvores nativas como o Angico Branco são muito indicadas para ações de reflorestamento, preservação ambiental, arborização urbana, paisagismos ou plantios domésticos. O reflorestamento, por exemplo, corresponde a implantação de florestas em áreas que já foram degradadas, seja pelo tempo, pelo homem ou pela natureza.
Já quando há a finalidade de arborização urbana ou paisagismo, é necessário avaliar o espaço em que a muda será plantada para que não haja problemas com a fiação elétrica ou rachaduras na calçada.
SCHINOPSIS BRASILIENSIS
Conhecida como a espécie que têm as árvores mais altas encontradas na caatinga, a baraúna é utilizada para recuperação de áreas degradadas, sistemas agroflorestais, para fins energéticos, medicinais, apícolas e ornamentais. Planta decídua e heliófila, comum em várzeas da região semiárida. Ocorre, via de regra, em solos calcários, podendo ser encontrada também em afloramentos pedregosos (Lorenzi, 1992; Kiill, 2012; Maia, 2012).
Do gênero Schinopsis, a espécie Schinopsis brasiliensis Engl. pertence à família Anacardiaceae R. Br. com a seguinte hierarquia taxonômica: Classe Equisetopsida C. Agardh, subclass Magnoliidae Novák ex Takht., superorder Rosanae Takht., ordem Sapindales Juss. Ex Bercht. & J. Presnel, sinonímia botânica Schinopsis brasiliensis var. glabra Engl. (Trópicos, 2020).
Supostamente o nome foi atribuído à espécie devido a madeira apresentar coloração escura, oriundo do Tupi ibirá-una ou muira-una, que significa “madeira preta”. Conhecida vulgarmente como Baraúna ou Braúna, a espécie conta com diversos sinônimos populares: braúna-do-sertão, braúna-parda, quebracho, ibiraúna, pau-preto, chamacoco, guaraúna. Na Bolívia, conhecida como soro, e no Paraguai, baraúna (Lorenzi, 1992; Carvalho, 2009; Maia, 2012).
Possui madeira pesada (densidade 1,23 g/cm³) e de alta qualidade, com elevada durabilidade natural quando em ambiente externo e, devido o alto potencial madeireiro, a espécie pode ser empregada para diversos fins, dentre os quais podem-se destacar: excelente opção para usos externos e obras internas, mourões, estacas, postes, vigas, caibros, cabos de ferramentas, pilões, dormentes para estrada de ferro, prensas, lenha, carvão etc. Além da madeira, a baraúna é usada para fins medicinais para tratamento de dores de dentes, dores de ouvido, histeria e nervosismo. Também é recomendada para arborização urbana. Em função da alta exploração, a espécie encontra-se na Lista Nacional das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, de acordo com avaliação realizada pelo Centro Nacional de Conservação da Flora (Cncflora/JBRJ) e, por isso, seu corte é proibido (Lorenzi, 1992; Carvalho, 2009; Maia, 2012; Kiill, 2012; Alvarez et al. 2012).
Espécie típica da caatinga, com ocorrências confirmadas nos estados da região Nordeste (exceto Maranhão); Sudeste, no estado de Minas Gerais e alguns estados da região Centro Oeste. Baseado em literatura, é encontrada também na Bolívia e no Paraguai (Trópicos, 2020; Silva-Luz et al., 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em resumo, a vegetação arbórea da Caatinga, é formada predominantemente por plantas lenhosas de médio porte que se diversificam regionalmente e localmente. Essa heterogeneidade, tanto em escala regional quanto em escala local, coloca grandes desafios para a conservação da biodiversidade. No caso especificamente da Caatinga, menos de 2% de seus remanescentes estão protegidos em unidades de conservação efetivas. A baixa similaridade florística e o grande número de espécies localmente endêmicas resultam em que diferentes áreas de Caatinga são únicas e a perda de uma delas pode representar o desaparecimento de uma diversidade que não existe em nenhuma outra região do mundo. Já que a saúde dos remanescentes de vegetação nativa tem relação com o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde estão inseridos, fica evidente que medidas efetivas para a conservação da Caatinga não passam exclusivamente pela criação de novas Unidades de Conservação. A dimensão social também deve ser considerada e a criação de oportunidades e incentivos para o desenvolvimento sustentável das comunidades da região Nordeste, a região mais pobre e com os menores valores de IDH (índice de desenvolvimento humano) no Brasil também é questão essencial para a conservação da Caatinga.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO FILHO, J. A. Proposta Para a Implementação do Manejo Pastoril Sustentável da Caatinga. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Diretoria de Ecossistemas. Brasília, 2014. 135p.
FERNANDES, M. F.; QUEIROZ, L. P. Vegetação e flora da Caatinga. Ciência e Cultura, v. 70, n. 4, São Paulo, 2018. Disponível em: http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602018000400014. Acesso em: 13 março 2025.
SILVA, C. M. SILVA, C. I. da HRNCIR, M., QUEIROZ, T. de, FONSECA, V. L. I. Guia de Plantas VISITADAS POR ABELHAS NA CAATINGA. Editora Fundação Brasil Cidadão, Fortaleza, 1. Ed., 2012.
LOIOLA, M. I. B.; PATERNO, G. B. C DINIZ, J. A. CALADO, J. F.; OLIVEIRA, A. C. P. LEGUMINOSAS E SEU POTENCIAL DE USO EM COMUNIDADES RURAIS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – RN. Revista Caatinga, Mossoró, v. 23, n. 3, p. 59-70, jul. set. 2010.
TRÓPICOS. Cenostigma pyramidalis (Tul.) Gagnon & G.P. Lewis Disponível em:< http://legacy.tropicos.org/Name/13027643 >. Acesso em 17 março 2025.
CNIP-Centro Nordestino de Informações sobre Plantas. Disponível em: < http://www.cnip.org.br/bdpn/ficha.php?taxon=1329 >. Acesso em 17 março 2025.
MAIA-SILVA, C.; SILVA, C. I. da; HRNCIR, M. Guia de plantas visitadas por abelhas na Caatinga, 1. ed. Fortaleza, CE: Editora Fundação Brasil Cidadão, 2012.
CARVALHO, P. E. R. Imburana-de-Espinho-Commiphora leptophloeos. Comunicado técnico. Colombo: Embrapa Florestas. p. 1-8. 2009.
CNIP-Centro Nordestino de Informações sobre Plantas. Disponível em: <http://www.cnip.org.br/bdpn/ficha.php?cookieBD=chip7 & taxon=6324>. Acesso em: 10 março 2025.
OLIVEIRA, V. R. de; DRUMMOND, M. A.; SANTOS, C. A. F. NASCIMENTO, C. E. de S. Spondias tuberosa: Umbu. In: CORADIN, L.;CAMILLO, J.; PAREYN, F. G. C. (Ed.). Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial: plantas para o futuro: região Nordeste. Brasília, DF: MMA, 2018. Cap. 5, p. 304-315 il. color. (Série Biodiversidade, 51).
Spondias in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4405>. Acesso em: 10 março 2025.
CARVALHO, P. E. R. Juazeiro – Ziziphus joazeiro. Embrapa, Colombo, PR. Embrapa Florestas. Circular Técnica 139, 2007.
MAIA, G. N. Caatinga: árvores e arbustos e suas utilidades. 2. ed. Fortaleza-CE: Printcolor Gráfica e Editora, 2012.
CONCEIÇÃO, D. de A.; PAULA, J.E. de. Contribuição para o conhecimento da flora do pantanal mato-grossense e sua relação com a fauna e o homem. In: SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS E SÓCIO-ECONÔMICOS DO PANTANAL, 1., 1984. Corumbá. Anais. Brasília: EMBRAPA DDT, 1986. p.107-136. (EMBRAPA-CPAP. Documentos, 5).
CNCFlora. Schinopsis brasiliensis in Lista Vermelha da flora brasileira versão 2012.2 Centro Nacional de Conservação da Flora. Disponível em http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/Schinopsis brasiliensis>. Acesso em 11 março 2025.
ALVAREZ, I. A.; OLIVEIRA, U. R.; MATTOS, P. P.; BRAZ, E. M.; CANETTI, A. Arborização urbana no semiárido: espécies potenciais da Caatinga. Embrapa Florestas, Colombo, PR, 2012.
CARVALHO, P. E. R. Braúna-do-Sertão – Schinopsis brasiliensis. Circular Técnica, 222, Embrapa Florestas, 2009, 1-13 p.
KILL, L. H. P. Fenologia reprodutiva e dispersão das sementes de quatro espécies da Caatinga consideradas como ameaça de extinção. Informativo Abrates, Brasília, DF, v. 22, n. 3, 2012, 12-15 p.
LIMA, V. V. F.; VIEIRA, D. L. M.; SEVILHA, A. C.; SALOMÃO, A. N. Germinação de espécies arbóreas de floresta estacional decidual do vale do rio Paraná em Goiás após três tipos de armazenamento por até 15 meses. Biota Neotrop, v. 8, n. 3, 2008.
LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. 1. ed. Nova Odessa, SP: Editora Plantarum, 1992. 6 p.
MAIA, G. N. Caatinga: árvores e arbustos e suas utilidades. 2. ed. Fortaleza, CE: Printcolor Gráfica e Editora, 2012, 135 p.
SILVA-LUZ, C.L.; MITCHELL, J.D.; PIRANI, J.R.; PELL, S.K. Anacardiaceae in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4396>. Acesso em: 11 março 2025.
Referencias
Share this :
Área do Conhecimento