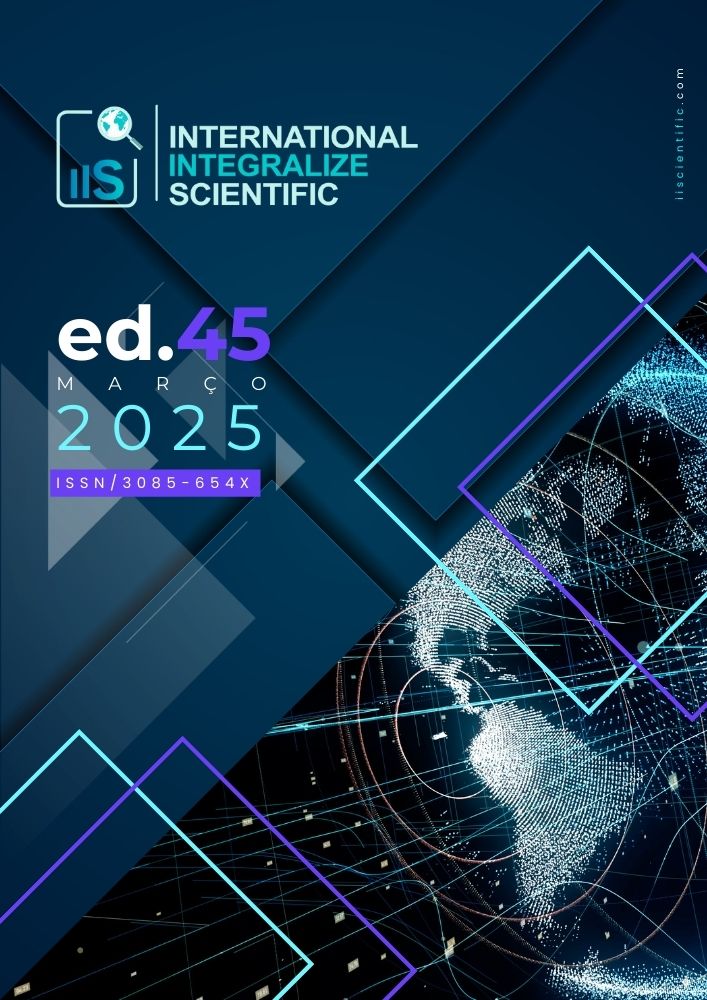Principais desafios da educação inclusiva
MAIN CHALLENGES OF INCLUSIVE EDUCATION
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Autor
Prof. Dr. Tobias do Rosário Serrão
Resumo
Summary
Resumen
INTRODUÇÃO
A Educação Inclusiva é um tema contemporâneo que gera amplos debates no cenário educacional. No Brasil, assim como em muitos outros países, há uma legislação robusta que garante o direito à inclusão de pessoas com deficiência nos diversos setores da sociedade, incluindo a escola. No entanto, a efetivação desse direito ainda enfrenta inúmeros desafios, especialmente no âmbito da educação pública, onde a infraestrutura inadequada, a falta de recursos pedagógicos e a carência de formação docente especializada dificultam a implementação plena da inclusão escolar (Saviani, 2019).
O presente estudo tem como objetivo analisar os principais desafios enfrentados pela escola inclusiva, com ênfase na formação docente como fator determinante para a efetivação da inclusão escolar. A partir de uma abordagem teórica e exploratória, busca-se compreender como os professores da rede pública lidam com a inclusão e quais são os principais obstáculos encontrados para garantir que os estudantes com deficiência tenham acesso a uma educação de qualidade. A inclusão não deve ser apenas um cumprimento legal, mas um processo que realmente favoreça o desenvolvimento e a participação ativa dos alunos no ambiente escolar (Sousa, 2021).
A pesquisa se fundamenta em revisão bibliográfica, analisando publicações científicas recentes e documentos oficiais sobre a temática. A abordagem considera que a inclusão escolar envolve múltiplos aspectos, desde a adequação curricular até a formação continuada dos docentes. Conforme apontam Prais (2017), é essencial que a escola esteja preparada para atender às diversas demandas de aprendizagem, oferecendo suporte adequado para que os professores possam atuar de forma eficaz e integrada.
Diante desse panorama, a formação docente emerge como um dos eixos centrais para a consolidação da inclusão escolar. Conforme destacam Teles (2022), capacitar os professores para lidar com a diversidade em sala de aula requer estratégias que vão além da simples adaptação curricular, incluindo a implementação de metodologias ativas, o uso de recursos tecnológicos assistivos e a construção de um ambiente pedagógico colaborativo.
Assim, este estudo busca não apenas discutir os desafios enfrentados pela escola inclusiva, mas também apontar caminhos para a superação dessas dificuldades, enfatizando o papel da formação docente como elemento fundamental para a construção de um ensino verdadeiramente acessível e equitativo para todos os alunos.
METODOLOGIA
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, desenvolvida por meio de revisão de literatura, essa abordagem qualitativa possibilita a compreensão aprofundada do fenômeno estudado, permitindo identificar padrões, dificuldades e avanços no campo da educação inclusiva. A coleta de dados foi realizada a partir de pesquisas em plataformas acadêmicas como Google Acadêmico, SciELO (Scientific Electronic Library Online) e CAPES Periódicos, além de consulta a legislações educacionais disponíveis nos portais oficiais do Planalto e do Ministério da Educação (MEC).
Foram analisados artigos científicos, dissertações e legislações pertinentes ao tema, garantindo um embasamento teórico consistente. Para a seleção das publicações, adotou-se como critério temporal a inclusão de trabalhos publicados entre 2017 e 2024, com exceção de um estudo de 2013, considerado relevante para a fundamentação teórica da pesquisa. Inicialmente, 255 trabalhos foram identificados, e, após criteriosa análise de relevância e aderência ao tema, 31 trabalhos, envolvendo leis, artigos e livros, foram selecionados para compor a discussão.
A análise dos dados seguiu os princípios da Análise Temática, conforme proposto por Rosa e Mackedanz (2021), permitindo a categorização dos principais desafios da inclusão escolar. Assim, a metodologia adotada visa compreender, com base em estudos científicos, as dificuldades e possibilidades para a efetivação da educação inclusiva, especialmente no contexto da formação docente.
REFERENCIAL TEÓRICO
O MUNDO CONTEMPORÂNEO E A INCLUSÃO
A contemporaneidade nos impõe desafios constantes, especialmente quando se trata de educação inclusiva. A evolução da sociedade, permeada por avanços científicos e tecnológicos, trouxe consigo novas perspectivas sobre os direitos humanos, a equidade e a valorização da diversidade. No entanto, quando observamos a realidade da inclusão educacional, percebemos que, apesar do crescimento das discussões e das iniciativas voltadas para a integração de alunos com deficiência no ensino regular, ainda há um longo caminho a percorrer. A escola, como espaço de construção do conhecimento e formação cidadã, não pode se limitar a um modelo que reforce desigualdades, mas sim se tornar um ambiente onde as diferenças sejam respeitadas e acolhidas como parte essencial do processo educativo (Lope, 2020).
A inclusão, no contexto atual, está diretamente ligada à luta por equidade e direitos sociais. Isso significa compreender que cada indivíduo, independentemente de suas particularidades, deve ter acesso a uma educação de qualidade, sem que barreiras físicas, pedagógicas ou sociais impeçam seu pleno desenvolvimento. Para Kikuichi e Queiroz (2024), a inclusão escolar precisa ser compreendida para além do cumprimento de normativas legais; deve ser uma prática viva, integrada ao cotidiano da escola, que promova o respeito à singularidade dos alunos e fortaleça sua participação ativa no processo de aprendizagem.
No entanto, a realidade ainda está distante desse ideal. Embora se fale amplamente sobre inclusão, muitas dessas discussões permanecem restritas ao campo teórico ou às políticas públicas que, na prática, nem sempre se concretizam. Há uma necessidade urgente de mudança de mentalidade, pois ainda vivemos em uma sociedade que, em muitos aspectos, reproduz estruturas excludentes. O preconceito e a falta de informação fazem com que pessoas com deficiência continuem sendo vistas sob um viés de incapacidade, o que reforça a marginalização e dificulta sua plena participação na sociedade (Teles, 2022).
A transformação desse cenário exige não apenas leis que garantam os direitos das pessoas com deficiência, mas uma mudança cultural que promova a empatia e a desconstrução de estigmas. Um exemplo claro dessa contradição entre teoria e prática está no cotidiano urbano: vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência frequentemente são ocupadas por quem não precisa delas, evidenciando o desprezo por legislações que visam garantir direitos básicos. Se pequenas atitudes como essa ainda são desrespeitadas, como esperar que a inclusão educacional ocorra de maneira plena? (Machado, 2017).
Durante séculos, as pessoas com deficiência foram vistas como um fardo para a sociedade. Em tempos passados, eram muitas vezes isoladas e excluídas, sem qualquer possibilidade de acesso à educação e ao convívio social. Embora a ciência e o conhecimento tenham evoluído significativamente, ainda hoje nos deparamos com resquícios desse pensamento ultrapassado. O preconceito, que antes era explícito, agora assume formas mais sutis, mas ainda assim presentes. Disfarçado sob discursos de normalidade e padronização, esse preconceito continua a limitar as oportunidades daqueles que deveriam ser reconhecidos por suas capacidades, e não por suas limitações (Pimentel & Pimentel, 2017).
A escola precisa ser um espaço de transformação e não de perpetuação da exclusão. A segregação que outrora caracterizou o sistema educacional, separando alunos com deficiência dos demais, ainda encontra resistência para ser completamente superada. Mas a inclusão não pode ser vista como um favor ou uma obrigação imposta por legislações; ela deve ser uma prática cotidiana, pautada no respeito à diversidade e na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática (Duarte, 2024).
O grande desafio que enfrentamos, portanto, é transformar o discurso inclusivo em realidade. Isso exige comprometimento não apenas dos gestores educacionais e dos professores, mas de toda a sociedade. Afinal, para educar, basta ser humano e compreender que todos aprendemos uns com os outros. Mas enquanto houver resistência à aceitação da diversidade, enquanto houver medo e insegurança por parte das famílias que temem pela exclusão de seus filhos, ainda teremos um longo caminho a percorrer. A verdadeira inclusão acontece quando reconhecemos que a diversidade não é um problema a ser resolvido, mas sim uma riqueza que precisa ser valorizada.
Apesar de publicado em 2013, o estudo de Maria Teresa Eglér Mantoan, com título inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? é extremamente relevante para essa discussão pois, destaca aspectos relevantes pertinentes a inclusão escolar, Mantoan (2013) ao analisar os diversos elementos que compõem a produção da inclusão na contemporaneidade, percebe-se que a emergência da perspectiva da educação inclusiva deslocou a centralidade da educação especial nos discursos oficiais, promovendo uma mudança significativa nas políticas e práticas educacionais.
Esse processo reflete uma ruptura com os modelos tradicionais de ensino, nos quais a educação especial era concebida como uma modalidade paralela e segregada, reforçando a exclusão de determinados grupos. A educação desempenha um papel essencial como agente de transformação, permitindo a ampliação da consciência crítica e o reconhecimento das diferenças como elementos estruturantes do processo educativo.
Nesse sentido, Adorno (1995) apud Machado (2017) argumenta que a educação possibilita o desenvolvimento de uma “consciência verdadeira”, que torna o indivíduo capaz de se opor à dominação, promovendo a emancipação e a construção de uma sociedade mais justa. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de formação docente, capacitando os profissionais para atuar em uma escola verdadeiramente inclusiva, na qual a diversidade seja valorizada e respeitada.
Assim, a educação especial, portanto, deve ser compreendida não como uma instância separada da escola regular, mas como um campo do conhecimento que permeia todas as fases e modalidades do ensino, contribuindo para a adaptação curricular e a acessibilidade pedagógica.
O MUNDO DA EXCLUSÃO SOCIAL E O DESAFIO DA INCLUSÃO
A exclusão social é uma ferida aberta na história da humanidade, e durante séculos, sociedades construíram barreiras invisíveis e visíveis que limitaram o acesso de muitos a direitos fundamentais, incluindo a educação. A escola, em seu percurso histórico, foi um reflexo dessas desigualdades, funcionando, muitas vezes, como um espaço seletivo, onde apenas aqueles que atendiam aos padrões impostos pelo contexto social tinham acesso pleno à aprendizagem (Papim e Roma, 2020).
Contudo, a inclusão surge como um movimento de transformação, um convite para romper com estruturas excludentes e construir um espaço onde todas as pessoas, independentemente de suas condições, possam aprender e conviver juntas. A educação especial, dentro da perspectiva inclusiva, não se restringe a um espaço isolado ou segmentado, mas sim transversalizar todas as etapas da educação, garantindo que o estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação possa compartilhar do mesmo ambiente escolar que os demais (Muller, 2018).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), ao estabelecer em seu Art. 58 que a educação especial deve ser ofertada preferencialmente na escola regular, busca assegurar que esses estudantes tenham acesso não apenas ao conhecimento, mas também à troca de experiências, à socialização e ao desenvolvimento pleno dentro de um espaço diverso e rico em possibilidades (Brasil, 2007). Esse direcionamento é reforçado pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que enfatiza a necessidade de acessibilidade aos processos de ensino-aprendizagem e a participação equitativa dos estudantes com deficiência no ambiente escolar.
Mas por que a exclusão ainda persiste? A exclusão não nasce apenas da ausência de políticas públicas eficazes, mas das raízes profundas de uma cultura que, historicamente, valoriza a homogeneidade e rejeita a diferença. As sociedades construíram narrativas que classificam e hierarquizam os indivíduos com base no que é considerado “normal” ou “aceitável”. Essa lógica se reflete na educação, perpetuando uma escola que, muitas vezes, naturaliza a seletividade e perpetua a desigualdade.
Para que a inclusão se concretize, não basta apenas permitir a matrícula de alunos com deficiência em escolas regulares. É necessário reconfigurar as práticas pedagógicas, capacitar professores, rever currículos e romper com as barreiras atitudinais que ainda marginalizam esses estudantes. Como afirma Mantoan (2003, p. 12):
A inclusão, portanto, implica mudança desse atual paradigma educacional, para que se encaixe no mapa da educação escolar que estamos retraçando. É inegável que os velhos paradigmas da modernidade estão sendo contestados e que o conhecimento, matéria-prima da educação escolar, está passando por uma reinterpretação. As diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, enfim, a diversidade humana está sendo cada vez mais desvelada e destacada e é condição imprescindível para se entender como aprendemos e como compreendemos o mundo e a nós mesmos.
A educação inclusiva não deve ser vista como um “favor” concedido aos estudantes com deficiência, mas como um direito inalienável, garantido pela Carta Magna de 1988 e por diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Seu propósito não é apenas garantir a presença desses alunos na escola, mas sim superar os desafios impostos pela sociedade e transformar a escola em um ambiente genuinamente acessível, acolhedor e democrático (Brasil, 1988).
Essa transformação implica olhar para a inclusão como um princípio ético, um compromisso coletivo e um desafio contínuo. Como destaca Bernal, Silva e Gomes (2023, p. 52) “todos devem aprender juntos, sempre que possível, levando-se em consideração suas dificuldades e diferenças”. Esse princípio não se trata apenas de garantir um espaço físico compartilhado, mas de promover metodologias e práticas que favoreçam a aprendizagem colaborativa, o respeito às singularidades e a valorização do potencial de cada aluno.
A luta por inclusão não se restringe ao campo da educação. Ela atravessa as relações sociais e evidencia o quanto ainda precisamos avançar para construir uma sociedade verdadeiramente justa e equitativa. Ao longo da história, a exclusão tem sido uma constante, motivando resistências, mobilizações e conquistas que foram fundamentais para que hoje possamos debater e implementar políticas de inclusão. No entanto, esse processo ainda está longe de ser finalizado.
Em tempos de avanços e retrocessos, incluir se torna um ato de resistência. A aplicabilidade dos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988 depende da ação conjunta do Estado, da sociedade e das instituições de ensino, pois, como pontua Souza (2021, p. 22): “(…) políticas servem para criar circunstâncias em que as condições para a efetivação das práticas são alteradas ou reduzidas ou nas quais metas são lançadas”. No entanto, para que tais políticas sejam efetivas, é essencial que não se restrinjam a um caráter assistencialista ou meramente compensatório. A inclusão não pode ser reduzida a um modelo que apenas retira o excluído da coletividade e o coloca em espaços isolados, como ainda ocorre em muitas escolas e projetos.
O verdadeiro desafio da inclusão é romper com a cultura da exclusão, desconstruindo padrões rígidos e excludentes que ainda predominam no cenário educacional. Isso implica derrubar barreiras arquitetônicas, metodológicas e atitudinais, garantindo que os ambientes de aprendizagem sejam verdadeiramente acessíveis e que os processos educativos sejam, de fato, humanizados e significativos para todos os estudantes (Lope, 2020).
A exclusão, infelizmente, continua sendo um reflexo da segregação social e política que permeia as relações humanas. Ao longo da história, indivíduos com deficiência ou qualquer outra limitação sempre foram colocados à margem da sociedade, seja pela falta de acessibilidade, seja pela ausência de políticas públicas eficazes, ou mesmo pelo preconceito enraizado que dificulta sua plena participação na vida social (Kikuichi e Queiroz, 2024). Essa realidade se reflete no ambiente escolar, onde o aluno, por não se sentir pertencente à cultura predominante, encontra na convivência seletiva com seus pares uma forma de refúgio e acolhimento. No entanto, essa segregação velada perpetua ciclos de exclusão, limitando as oportunidades de interação e desenvolvimento integral desses estudantes.
A escola, como espaço de construção social e formação cidadã, precisa assumir seu papel ativo nesse processo de transformação. Conforme apontam Papim e Roma (2020, p. 91): “(…) além da família, é papel da instituição escolar organizar um trabalho educativo que atenda às necessidades de todos os estudantes”. Ou seja, a responsabilidade de romper com o ciclo da exclusão não é apenas da escola ou da família, mas de toda a sociedade, que deve atuar coletivamente para garantir que os direitos fundamentais à educação e à inclusão sejam plenamente efetivados.
O Estado, por meio de políticas públicas bem estruturadas, precisa regular e implementar medidas que assegurem a diversidade como um eixo central na formulação dos padrões educacionais, transformando a inclusão em uma prática efetiva e cotidiana, e não apenas em um discurso teórico. Ainda assim, observa-se que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2007) constrói um histórico da educação especial de forma linear, partindo de um contexto de segregação até o modelo inclusivo atual. Essa abordagem, apesar de destacar avanços, também sugere um viés evolutivo e progressivo dessas práticas, como se o indivíduo com deficiência saísse de uma condição de exclusão para, gradualmente, alcançar a participação plena na sociedade.
Entretanto, essa transição não ocorre de maneira automática e natural. Para que a inclusão se concretize, é fundamental que as estruturas educacionais e sociais sejam reformuladas, considerando não apenas o acesso, mas a permanência e a qualidade do ensino oferecido a esses estudantes. A educação inclusiva, acompanhada pelo ordenamento jurídico brasileiro, estabelece diretrizes que garantem o direito à aprendizagem de alunos com deficiência em igualdade de condições com os demais estudantes.
O desafio, no entanto, está na efetivação dessas garantias dentro das instituições de ensino, garantindo que a diversidade seja respeitada e promovida de forma real, e não apenas reconhecida de maneira superficial. O verdadeiro sentido da democratização do ensino está em assegurar que todos os alunos possam aprender juntos, valorizando suas diferenças e respeitando suas individualidades. Por ser um direito inalienável, a educação não pode ser negligenciada. Sua ausência ou negação não apenas compromete o desenvolvimento individual do estudante, mas também gera responsabilidades legais para pais e responsáveis, que têm o dever de garantir a frequência escolar e o acompanhamento necessário para o aprendizado do filho(a) com necessidades educacionais especiais.
Privar alguém desse direito significa impor-lhe uma existência marginalizada, limitando suas oportunidades de crescimento social e pessoal. Mais do que uma questão legal, essa exclusão fere princípios fundamentais de dignidade humana e impede que a sociedade avance em direção a um modelo verdadeiramente equitativo. A escola inclusiva, ou aquela que se propõe a um ensino realmente acessível, deve ser um espaço que receba todos os estudantes, sem restrições ou distinções. Como pontua Duarte (2024), essa proposta não pode criar separações ou barreiras entre os diferentes modos de aprendizagem, mas sim acolher a diversidade como elemento enriquecedor do processo educativo. Para isso, é essencial que os modelos pedagógicos sejam revistos, considerando abordagens que atendam às necessidades individuais de cada aluno e promovam uma aprendizagem significativa.
A inclusão escolar não pode se restringir a um aspecto meramente técnico ou burocrático. Ela deve refletir uma mudança de mentalidade, tanto dentro das instituições educacionais quanto na sociedade como um todo. O desafio não está apenas em inserir o aluno com deficiência na escola, mas em criar um ambiente em que ele se sinta pertencente, valorizado e capaz de aprender de forma efetiva. Como apontam Stainback e Stainback (1999, p. 72) apud Martins (2015, p. 2055):
A inclusão, na esfera psicopedagógica, origina uma mudança do ponto de vista educacional, pois não se restringe a amparar apenas os acadêmicos que expõem dificuldades no colégio, entretanto apoiando a todos, os professores, a equipe diretiva e a pedagógica da escola, os familiares e os profissionais da área da saúde, para que obtenham sucesso na vida educativa geral deste sujeito.
Essa visão reforça a ideia de que a inclusão não beneficia apenas os estudantes com deficiência, mas promove um impacto positivo para toda a comunidade escolar. Professores, gestores, famílias e profissionais da saúde devem atuar em conjunto para que a educação inclusiva se torne uma realidade palpável. Afinal, a inclusão não é um ato isolado, mas um compromisso contínuo que exige diálogo, adaptação e, sobretudo, transformação social (Lope, 2020).
A educação é um direito fundamental que deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais ou culturais. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu esse princípio como base para um sistema educacional que visa o pleno desenvolvimento humano e a formação para a cidadania. No entanto, para que esse direito seja efetivamente assegurado, é essencial que a educação não ocorra em ambientes segregados, mas sim em espaços inclusivos, que promovam a convivência e o aprendizado coletivo (Brasil, 1988).
Ao longo dos anos, o arcabouço jurídico brasileiro tem sido aprimorado para garantir que a educação seja, de fato, acessível a todos. Dois anos após a promulgação da Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reforçou essa responsabilidade, determinando que os pais ou responsáveis têm o dever de matricular seus filhos na rede regular de ensino (Brasil, 1990). Essa medida reforça a necessidade de uma aliança entre família, escola e Estado, formando uma tríade essencial para assegurar que todas as crianças tenham acesso à educação e às oportunidades que ela proporciona.
A legislação avançou ainda mais com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), que consolidou o entendimento de que a educação é um direito universal e que pessoas com necessidades educacionais especiais devem ser atendidas preferencialmente na rede regular de ensino (Brasil, 1996). Esse compromisso foi reafirmado pelo Decreto nº 7.611/2011, que reconhece como público da Educação Especial os estudantes com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). O mesmo decreto estabelece que é dever do Estado garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino, combatendo qualquer prática de exclusão ou segregação sob justificativa de deficiência.
A trajetória da Educação Especial no Brasil é marcada por transformações significativas ao longo das décadas. Na década de 1970, a criação do Centro Nacional de Educação Especial (Cenesp) representou um marco na sistematização das ações voltadas ao atendimento de alunos com deficiência, embora ainda se baseasse em uma visão integracionista, ou seja, que previa a adaptação do aluno à escola, e não o contrário. Paralelamente, a Lei nº 5.692/1971 trouxe algumas diretrizes voltadas para o atendimento educacional de alunos com deficiência física e intelectual, além de prever suporte para estudantes em atraso escolar e superdotados (Brasil, 1971).
Nas décadas de 1980 e 1990, a luta pela educação inclusiva ganhou força no cenário nacional e internacional. O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) trouxeram novas diretrizes para a formulação de políticas públicas que assegurasse a inclusão de estudantes com deficiência no ensino regular. Esses documentos influenciaram diretamente a construção da Política Nacional de Educação Especial, que passou a enxergar a inclusão não apenas como um direito, mas como um princípio estruturante do sistema educacional (ONU, 1990).
A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, reforçou essa perspectiva ao estabelecer que as pessoas com deficiência possuem os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que qualquer outra pessoa. Esse marco normativo fortaleceu a necessidade de garantir a efetiva inclusão e proteção contra qualquer forma de discriminação. Ainda nesse contexto, o Decreto nº 3.298/1999, que regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, veio consolidar normas de proteção e garantir direitos mais amplos a esse público.
Além das questões legais, a luta pela educação inclusiva faz parte de um Movimento Mundial que envolve ações políticas, sociais, culturais e pedagógicas. O objetivo principal dessa mobilização é assegurar que todas as crianças e jovens aprendam juntos, sem discriminação ou segregação, independentemente de suas condições (Kikuichi e Queiroz, 2024). Esse ideal exige que as escolas se adaptem às necessidades dos alunos, considerando não apenas aqueles com deficiência, mas também aqueles que enfrentam barreiras decorrentes de preconceitos raciais, econômicos, linguísticos e sociais (Teles, 2022).
A evolução da legislação e das políticas públicas voltadas à inclusão reflete um esforço contínuo para superar desigualdades e transformar a educação em um espaço verdadeiramente acessível para todos. Como prevê a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, no Capítulo I, Art. 3º do Decreto Federal 3.298/1999, é dever do Estado garantir que cada indivíduo tenha assegurado o direito à dignidade, ao respeito e à plena participação na sociedade, garantindo-lhe igualdade de oportunidades e acessibilidade nos diversos contextos educacionais e sociais.
Deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica, ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; Deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir ou ter a probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; Incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. (Brasil, 1999)
Neste sentido, a deficiência é um conceito que transcende o aspecto meramente clínico ou biológico, pois envolve questões sociais, culturais e estruturais que determinam o grau de inclusão ou exclusão de um indivíduo na sociedade. O Decreto nº 3.298/1999, ao definir a deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano”, estabelece um marco normativo importante para o reconhecimento e a proteção dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil (Brasil, 1999).
A legislação brasileira avança ao especificar, dentro do mesmo Decreto nº 3.298/1999, no artigo 4º, a definição de deficiência física, caracterizando-a como qualquer alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano que comprometa a função física. Esse comprometimento pode ocorrer sob diversas formas, incluindo paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo e deformidades congênitas ou adquiridas. No entanto, a legislação ressalta que deformidades estéticas ou aquelas que não interfiram no desempenho de funções não são enquadradas como deficiência física (Brasil, 1999).
A precisão conceitual presente na legislação tem grande importância para garantir a efetividade das políticas públicas voltadas à inclusão. Com definições claras e objetivas, o Estado pode estruturar ações que considerem não apenas as limitações individuais, mas também os desafios impostos pelo meio social. A acessibilidade, a adaptação dos espaços e o direito ao atendimento especializado são elementos essenciais para a garantia de direitos, evitando que a deficiência se torne um fator de marginalização e exclusão (Machado, 2017).
Essas definições normativas, apesar de fundamentais para assegurar direitos, não são suficientes por si só para promover uma inclusão efetiva. É necessário que essas leis sejam acompanhadas de ações concretas, programas educacionais e políticas de acessibilidade, para que as barreiras estruturais e atitudinais sejam de fato superadas e a inclusão se torne uma realidade em todas as esferas da sociedade (Pimentel e Pimentel, 2017).
A deficiência física pode comprometer múltiplas funções do corpo, afetando um ou ambos os membros superiores e inferiores. Isso pode ocorrer devido à ausência de membros, deformidades, paralisia, falta de coordenação motora ou a presença de movimentos involuntários, o que impacta diretamente a participação em atividades escolares e a autonomia do indivíduo no cotidiano. Essas limitações podem ser agravadas pela falta de acessibilidade e adaptações adequadas nos ambientes educacionais, dificultando ainda mais a inclusão desses alunos (MEC/SEESP, 2006).
Com o objetivo de consolidar direitos e fortalecer a proteção da dignidade das pessoas com deficiência, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) – Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que entrou em vigor em 5 de janeiro de 2016. Essa legislação representa um avanço significativo, pois incorpora princípios da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promovendo mudanças profundas no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente na esfera civil (Brasil, 2015).
Entre as mudanças promovidas pela LBI, destaca-se a nova abordagem sobre a capacidade civil das pessoas com deficiência. A norma reconhece que a existência de uma deficiência não afeta, por si só, a capacidade da pessoa para exercer seus direitos, garantindo-lhe autonomia e assegurando a proteção de seus direitos fundamentais. O Código Civil de 2002, ao tratar da personalidade jurídica e da capacidade, estabelece distinções importantes entre esses conceitos, como explica Sílvio Venosa (2014, p. 139):
Com o conjunto de poderes conferidos ao ser humano para figurar nas relações jurídicas dá-se o nome de personalidade. A capacidade é elemento deste conceito; ela confere o limite da personalidade. Se a capacidade é plena, o indivíduo conjuga tanto a capacidade de direito como a capacidade de fato; se é limitada, o indivíduo tem capacidade de direito, como todo ser humano, mas sua capacidade de exercício está mitigada; nesse caso, a lei lhe restringe alguns ou todos os atos da vida civil.
O reconhecimento dessa distinção é essencial para o avanço da inclusão, pois reafirma o princípio da personalização do direito civil, permitindo uma abordagem mais flexível e individualizada em relação à capacidade da pessoa com deficiência. Esse entendimento reforça a necessidade de modificar padrões sociais e garantir acessibilidade em todas as esferas da vida, conforme assegurado pela Constituição Federal de 1988 e pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
A autonomia da pessoa com deficiência está diretamente relacionada ao princípio da dignidade da pessoa humana, que orienta todo o ordenamento jurídico brasileiro. Barroso (2018, p. 45) esclarece que:
A autonomia é, no plano filosófico, o elemento ético da dignidade, ligado à razão e ao exercício da vontade em conformidade com determinadas normas. A dignidade como autonomia envolve a capacidade de autodeterminação do indivíduo, de decidir os rumos da própria vida e de desenvolver livremente a sua personalidade. Significa o poder de fazer valorações morais e escolhas existenciais sem imposições externas indevidas.
A legislação brasileira tem evoluído para garantir que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos de forma plena e independente, rompendo com modelos ultrapassados que viam a deficiência como um fator incapacitante absoluto. A própria curatela, mecanismo jurídico que antes restringia amplamente a capacidade civil das pessoas com deficiência, foi reformulada pelo Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015), garantindo um tratamento mais personalizado e proporcional às reais necessidades de cada indivíduo (Brasil, 2015).
Nesse contexto, Piovesan (2013, p. 297) destaca que o reconhecimento dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência representa um marco de mudança de perspectiva, possibilitando um novo olhar sobre a inclusão: “[…] Incorpora uma mudança de perspectiva, sendo um relevante instrumento para a alteração da percepção da deficiência, reconhecendo que todas as pessoas devem ter a oportunidade de alcançar de forma plena o seu potencial”.
Ao valorizar a dignidade humana, a legislação busca criar alicerces sólidos para eliminar barreiras sociais, culturais e estruturais, garantindo acessibilidade, autonomia e equidade no exercício da capacidade civil. No entanto, embora os avanços legais sejam notáveis, ainda há desafios significativos para a efetivação da inclusão na prática (Paim e Roma, 2020).
A escola, que deveria ser um dos principais espaços de inclusão, ainda enfrenta dificuldades para atender adequadamente os alunos com deficiência. A falta de investimentos e de compromisso contínuo das políticas públicas tem limitado a implementação efetiva das diretrizes inclusivas. Um dos principais obstáculos é a descontinuidade das políticas educacionais, pois a cada mudança de governo, muitas ações são interrompidas ou reconfiguradas sem o devido acompanhamento, prejudicando a construção de um sistema educacional realmente inclusivo e acessível (Muller, 2018).
A inclusão já é uma realidade assegurada pelas leis e tratados internacionais, mas sua concretização depende de comprometimento e ação efetiva. A educação inclusiva não pode ser um ideal distante, mas uma prática cotidiana, onde cada estudante, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou intelectuais, possa aprender, crescer e se desenvolver em igualdade de oportunidades.
Portanto, construir uma sociedade inclusiva significa ir além de políticas e normas. Significa transformar a mentalidade coletiva, promovendo uma educação que enxergue o outro não pela sua limitação, mas pela sua potencialidade. Somente assim será possível superar a exclusão social e garantir que a escola cumpra sua missão mais nobre: ser um espaço de acolhimento, aprendizado e desenvolvimento para todos.
FORMAÇÃO DOCENTE E A PRÁTICA NA SALA DE AULA
A formação docente desempenha um papel essencial na construção de práticas pedagógicas que atendam à diversidade presente na escola contemporânea. Para que a inclusão seja efetiva, é necessário que os professores estejam preparados para lidar com as especificidades de cada estudante, reconhecendo a diversidade como um elemento estruturante do processo de ensino-aprendizagem. Oliveira e Oliveira (2018) enfatizam que a formação inicial e continuada dos docentes deve estar alinhada com as demandas da educação inclusiva, garantindo que os professores desenvolvam competências para atuar em contextos heterogêneos.
A prática pedagógica no contexto da educação inclusiva exige que os docentes tenham acesso a metodologias diversificadas, planejamento diferenciado e estratégias que possibilitem a mediação pedagógica efetiva. Nesse sentido, Oliveira, Papim e Paixão (2018) destacam que os professores precisam ser capacitados para utilizar ferramentas que mobilizem atenção, memória, criatividade e comportamento voluntário dos estudantes, favorecendo a aprendizagem de maneira equitativa. O uso de metodologias ativas é uma alternativa eficiente, uma vez que permite uma abordagem mais dinâmica e participativa, conforme apontado por P1 (2022), ao afirmar que a diversificação das práticas possibilita perceber as potencialidades dos alunos e adaptar o ensino conforme suas necessidades.
A falta de formação específica na área da inclusão é um desafio recorrente enfrentado pelos docentes. Mantoan (2013) argumenta que a resistência de muitos professores em relação à inclusão decorre, muitas vezes, da ausência de formação adequada, pois esperam diretrizes que ofereçam soluções concretas para os desafios encontrados na sala de aula. No entanto, Prais (2017) reforça que a formação inicial deve fornecer as bases para que os professores investiguem e analisem criticamente sua prática pedagógica, possibilitando adaptações necessárias para atender a todos os estudantes.
Outro aspecto relevante é a formação continuada em serviço, que possibilita aos docentes a troca de experiências e o desenvolvimento de estratégias inclusivas baseadas em sua realidade cotidiana. Saviani (2019) aponta que a formação em serviço, quando estruturada de forma colaborativa, utilizando as escolas como espaços formadores, apresenta resultados positivos na capacitação dos professores para a inclusão. Essa abordagem possibilita a identificação de dificuldades e a elaboração conjunta de soluções, promovendo um ensino mais acessível e eficiente.
Além da formação, a efetividade das práticas inclusivas depende da organização do currículo escolar. Oliveira (2018) ressalta que a inclusão não deve ser apenas um princípio normativo, mas deve estar refletida no Projeto Político-Pedagógico (PPP) das escolas, garantindo que as estratégias inclusivas sejam incorporadas ao planejamento educacional. A revisão dos currículos, aliada ao suporte pedagógico e à oferta de recursos adequados, é fundamental para a superação das barreiras enfrentadas pelos alunos com deficiência.
A valorização da prática reflexiva também é um fator determinante na formação docente. Cirino e Cruz (2022) argumenta que a articulação entre teoria e prática oferece aos professores a possibilidade de compreender melhor o contexto em que atuam, intervindo de maneira mais eficaz nos desafios do cotidiano escolar. Dessa forma, a prática pedagógica inclusiva deve ser construída continuamente, a partir da reflexão e da adaptação constante às necessidades dos estudantes.
Por fim, a formação docente para a inclusão deve ser entendida como um processo contínuo, que não se restringe a momentos pontuais de capacitação, mas que se insere no cotidiano da prática pedagógica. Conforme Fonseca (2021) destaca, a eliminação de barreiras no ensino não pode ser tratada de forma isolada, pois o que é obstáculo para um estudante pode ser facilitador para outro. Assim, a formação docente deve estar voltada para a criação de um ambiente educacional acessível e equitativo, no qual todos os alunos tenham condições plenas de aprendizado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão escolar é um direito fundamental, mas sua efetivação ainda encontra barreiras significativas no contexto educacional brasileiro. Este estudo destacou que a formação docente desempenha um papel central nesse processo, sendo um dos maiores desafios para que a inclusão aconteça de maneira real e não apenas formal.
Os dados analisados apontam que, apesar dos avanços legais e das políticas educacionais, a ausência de capacitação contínua, a precariedade estrutural e a falta de suporte adequado comprometem a implementação da educação inclusiva. No entanto, percebe-se que, quando há investimento na formação dos professores e na adaptação curricular, o impacto positivo na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos com deficiência é evidente.
A inclusão não deve ser vista como um obstáculo, mas como uma oportunidade de transformar a escola em um espaço verdadeiramente democrático e acolhedor. Para isso, é essencial que gestores, educadores e a sociedade unam esforços para garantir que a diversidade seja respeitada e valorizada. Afinal, educar para a inclusão não é apenas um dever, mas um compromisso com um futuro mais justo e igualitário para todos.
REFERÊNCIAS
BARROSO, L. R. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 4. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2018, pg. 45.
BERNAL, B. L.; SILVA, F. F.; GOMES, V. L. O ensino de ciências na sala de recursos multifuncionais para alunos com transtorno do espectro autista. Revista Diálogos Interdisciplinares, v. 2, n. 12, p. 47-60, 2023. Disponível em: https://periodicos.ufms.br/index.php/deaint/article/view/20087. Acesso em 04 fev. 2025.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 04 fev. 2025.
BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 dez. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm. Acesso em: 04 fev. 2025.
BRASIL. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 out. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm. Acesso em: 04 fev. 2025.
BRASIL. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm. Acesso em: 04 fev. 2025.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 04 fev. 2025.
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 04 fev. 2025.
BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 04 fev. 2025.
BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 ago. 1971. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm. Acesso em: 04 fev. 2025.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 04 fev. 2025.
BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, DF: MEC/SEESP, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em: 04 fev. 2025.
CIRINO, R. M. B.; CRUZ, G. C.“Inclusão e Exclusão: Tensões Socioeducacionais Frente ao atendimento à diversidade humana”. Educação, v. 47,2022. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1984-64442022000100256&script=sci_arttext. Acesso em 04 fev. 2025.
DUARTE, M. R. A inclusão, educação e reabilitação profissional. IX Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, v. 9, n. 1, p. 56-71, 2024. Disponível em: https://www.trabalhoscidhcoimbra.com/ojs/index.php/anaiscidhcoimbra/article/view/3742. Acesso em 01 fev. 2025.
KIKUICHI, V. Z. F.; QUEIROZ, F. A. P. A Educação na contemporaneidade: contribuições da tecnologia digital para a inclusão das pessoas com deficiência auditiva. Revista Evidência, v. 14, 2024. Disponível em: https://ojs.uniaraxa.edu.br/index.php/evidencia/article/view/573. Acesso em 01 fev. 2025.
LOPE, C. N. Olhos nos olhos: novos paradigmas sobre a inclusão escolar na contemporaneidade. Editora Appris, 2020. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=Z6vdDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT11&dq=contemporaneidade+na+inclus%C3%A3o+&ots=QCPcqBalEY&sig=xhLsv5F4DXwHEisRGv0wTGDe198#v=onepage&q=contemporaneidade%20na%20inclus%C3%A3o&f=false. Acesso em 01 fev. 2025.
MACHADO, F. C. Inclusão na mídia: práticas de engajamento na contemporaneidade. Revista Educação Especial, v. 30, n. 58, p. 351-360, 2017. Disponível em: https://www.redalyc.org/journal/3131/313152151007/html/ Acesso em 01 fev. 2025.
MARTINS, B. A. Contribuições da psicopedagogia institucional à criança com deficiência na escola regular. Anais do VII Encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, v. 8, n. 2, p. 2054-2062, 2015. Disponível em: https://faculdadeprojecao.nucleoead.net/pos/pluginfile.php/564/mod_resource/content/10/artigo%20-%20CONTRIBUI%C3%87%C3%95ES%20DA%20PSICOPEDAGOGIA%20INSTITUCIONAL.pdf. Acesso em 04 fev. 2025.
MÜLLER, M. C. Anais [do] III Encontro Nacional de Filosofia Política Contemporânea e VIII Ciclo Hannah Arendt – A Crise da Democracia e do Estado de Direito / Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UEL/ Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina; – Londrina: UEL, 2018.
OLIVEIRA, A. A. S. Conhecimento escolar e Deficiência Intelectual: dados da realidade. Curitiba: Editora CRV, 2018.
OLIVEIRA, A. A. S.; OLIVEIRA, J. P. Os desafios para a constituição de uma escola inclusiva: em cena formação de professores. In: OLIVEIRA, A. A. S; FONSECA, K. A.; REIS; R. R. (orgs.). Formação de professores e práticas educacionais inclusivas. Curitiba: Editora CRV, 2018.
OLIVEIRA, A. A. S.; PAPIM, A. A. P.; PAIXÃO, K. M. G. “Educação Especial e Inclusiva: perspectivas e problematizações”. In: OLIVEIRA, A. A. S.; PAPIM, A. A. P.; PAIXÃO, K. M. G. (orgs.). Educação Especial e Inclusiva: contornos contemporâneos em educação e saúde. Curitiba: Editora CRV. 2018.
PAPIM, A. A. P.; ROMA, A. F. D. (Orgs.) Os des/caminhos educacionais: desafios da diversidade e inclusão social na educação pública [recurso eletrônico] / Angelo Antonio Puzipe Papim; Alessandra Ferreira Di Roma (Orgs.) — Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2020.
PIMENTEL, S. C.; PIMENTEL, M. C. Acessibilidade para inclusão da pessoa com deficiência: sobre o que estamos falando?. Revista da FAEEBA-Educação e Contemporaneidade, v. 26, n. 50, p. 91-103, 2017. Disponível em: https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/article/view/4265. Acesso em 01 fev. 2025.
PIOVESAN. F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
PRAIS, J. L. S. Das intenções à formação docente para a inclusão: contribuições do desenho universal para a aprendizagem. Curitiba: Editora Appris, 2017. Disponível em: https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/dialogoseperspectivas/article/view/7771. Acesso em 04 fev. 2025.
ROSA, L. S.; MACKEDANZ, L. F. A análise temática como metodologia na pesquisa qualitativa em educação em ciências. Atos de Pesquisa em Educação, v. 16, p. e8574-e8574, 2021. Disponível em: https://ojsrevista.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/8574. Acesso em 04 fev. 2025.
SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica, quadragésimo ano: novas aproximações. Campinas: Editora Autores Associados, 2019. Disponível em: https://periodicos.furg.br/momento/article/view/13167. Acesso em 04 fev. 2025.
SOUZA, A. C. A. Inclusão e direitos sociais: a parceria público-privada na promoção de projetos via terceiro setor. 188 f. Tese (Doutorado em Educação, Contextos, Contemporâneos e Demandas Populares) – Instituto de Educação/Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/Nova Iguaçu, RJ, 2021. Disponível em: https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9910. Acesso em 04 fev. 2025.
TELES, L. V. M. Sobre o processo de inclusão escolar na contemporaneidade: limites ou possibilidades?. Pontifícia Universidade Católica de Goiás, p.1-36, 2022. Disponível em: https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4514. Acesso em 01 fev. 2025.
VENOSA. S. S. Direito civil: parte geral. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
Referencias
Share this :
Área do Conhecimento