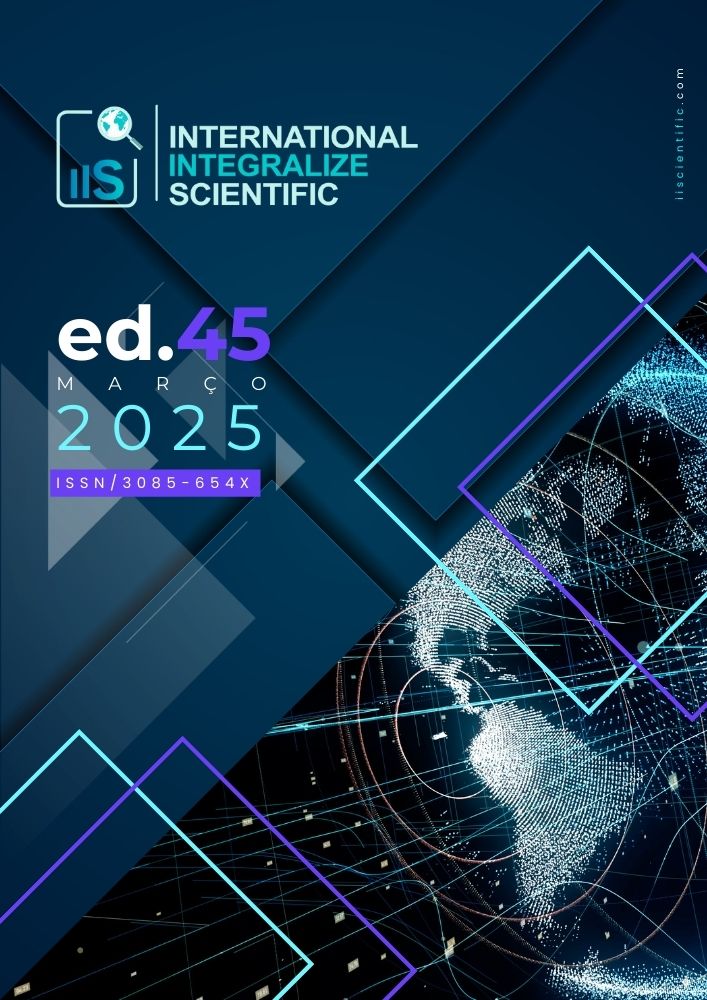Políticas públicas: uma análise no âmbito da educação inclusiva.
PUBLIC POLICIES: AN ANALYSIS IN THE SCOPE OF INCLUSIVE EDUCATION
POLÍTICAS PÚBLICAS: UN ANÁLISIS EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Autor
Prof. Dr. Carlos Alberto Ribeiro.
Resumo
Summary
Resumen
INTRODUÇÃO
Na atualidade um tema muito discutido no campo educacional é o da inclusão, pois as Leis brasileiras ao avançarem quebraram paradigmas que limitavam a presença de alguns indivíduos na sala de aula comum, possibilitando a abertura e regulamentando o acolhimento de todos em espaços sociais comuns e com os mesmos direitos. Esse processo vem possibilitando cada vez mais a presença de Pessoas com Deficiências (PCD’s) nas escolas, entre elas crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) as quais são a fonte de estudo desta pesquisa.
A inclusão escolar ainda enfrenta muitos desafios, entre eles está a compreensão de como o indivíduo com determinada deficiência desenvolve a socialização e o aprendizado. Pensando dessa forma pode-se perceber que é preciso utilizar-se de recursos metodológicos que proporcionem/facilitem esses processos.
Levando em consideração que muitos pesquisadores como Vigotsky(1998), Branco, Maciel e Queiroz (2016), Ramos (2016) entre outros, demonstrando que o aprendizado de crianças é facilitado por meio de jogos e brincadeiras, vale observar a relevância desses recursos como métodos no desenvolvimento de crianças com TEA presentes na educação básica.
Para tanto, esta pesquisa busca responder como os jogos e brincadeiras podem favorecer a socialização e inclusão de crianças com TEA na escola, uma vez que é nela que os processos sociais e educativos se iniciam.
O autismo se caracteriza por um comprometimento em várias áreas do desenvolvimento: habilidades de interação social recíproca, habilidades de comunicação ou presença de estereotipias de comportamento, interesses e atividades. Os prejuízos qualitativos representam um desvio acentuado em relação ao nível de desenvolvimento ou idade mental do indivíduo (Pinheiro et al., 2019). Até o momento as pesquisas indicam que esse transtorno não apresenta cura médica, mas pode-se conseguir um avanço em aprimoramento da aprendizagem e socialização, entretanto precisa de dedicação, força de vontade e um trabalho conjunto entre famílias, profissionais de inúmeras áreas, escola e um educador que promova uma proposta lúdica eficiente.
De acordo com Dupas et al. (2018) o TEA está relacionado a um distúrbio do neurodesenvolvimento e tem, usualmente, sua manifestação na primeira infância. Compreende dois domínios, um associado com dificuldade de comunicação e interação social; e outro referente a comportamentos restritivos e repetitivos. Sua prevalência mundial é da ordem de 10/10.000 crianças, sendo superior nas do sexo masculino; para cada menina, cinco meninos são autistas.
Levando em consideração os aspectos aqui apresentados, essa pesquisa tem como objetivo principal identificar como os jogos e brincadeiras podem favorecer o processo de interação e inclusão de alunos com TEA na educação. Como também, busca compreender a relevância desses recursos e identificar como eles auxiliam na socialização e aprendizagem dessas crianças no processo de inclusão na escola regular. Para tanto utilizou-se do método bibliográfico com cunho qualitativo.
Trata-se de um tema relevante na área educacional uma vez que os alunos com TEA estão cada vez mais presentes nas salas de aula, o que estimula a reflexão e compreensão do tema na perspectiva de melhorias para as práticas inclusivas no ambiente escolar, em especial no início da trajetória escolar que acontece com a educação infantil, fase onde a brincadeira direcionada com intencionalidade pedagógica faz parte dos recursos metodológicos de ensino e aprendizagem.
AUTISMO
Os fatores que favorecem ou, ao contrário, impedem a interação social de crianças com autismo e seus pares, têm sido um foco crescente de interesse de pesquisadores na área da psicologia do desenvolvimento. Umas das questões que se apresenta controversa é acerca do tipo de contexto de brincadeiras que mais promovem essas interações: se aquele definido como livre, isto é, no qual as interações ocorrem de forma espontânea, ainda que encorajadas pelos educadores; ou o dirigido utilizado formas de comunicação e de perceber sentimentos, gestos e faces humanas (Torres et al., 2020).
Todavia, segundo Moura (2021) as dificuldades comportamentais dos alunos com TEA estão ligadas ao desenvolvimento atípico dessas crianças. A recusa em fazer atividades ou seguir rotinas e regras está entre os maiores desafios comportamentais vivenciados pelos professores. Além disso, os interesses restritos e estereotipados também se apresentam como desafios comportamentais, quando se manifestam como inflexibilidade ou rigidez. A agressividade, embora não seja um critério diagnóstico para o autismo, pode se tornar um desafio quando os alunos não conseguem comunicar alguma insatisfação ou necessidade e fazem uso desse recurso.
Segundo Branco, Maciel e Queiroz (2016), a importância do brincar para o desenvolvimento infantil reside no fato de esta atividade contribuir para a mudança na relação da criança com os objetos, pois estes, enquanto entes concretos, perdem sua força determinadora na brincadeira. Logo, no ato lúdico, a imaginação ultrapassa as características físicas ou convenções sociais acerca do uso de determinadas ferramentas e objetos.
Nesse sentido Vygotsky (1998) afirma que “a brincadeira e, especialmente, os jogos de “faz-de-conta” são considerados como espaços de construção de conhecimentos pelas crianças, na medida em que os significados que ali transitam são apropriados por elas de forma específica”.
POLÍTICAS DE INCLUSÃO
Para Dias (2017) ao se incluir um aluno autista na instituição de ensino, torna-se necessário compreender o conceito sobre o autismo e suas características, para que assim busque-se práticas de intervenção que auxiliem no processo educacional e um ambiente favorável para o acolhimento dos mesmos.
A importância da interação social reside na noção de que essa habilidade é a base do desenvolvimento infantil e, por conseguinte, está implicada nos processos de desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem (Almeida, 2018). A capacidade simbólica é a habilidade que liga todos esses processos e tem sua origem nas experiências de socialização entre a criança e seus cuidadores, principalmente durante os “jogos sociais” (Bruner, 2018).
Portanto, nas habilidades de interação social e comunicação, associadas à presença de comportamento repetitivo e/ou restrito e interesses em atividades estereotipadas, que representam um desvio acentuado em relação ao nível de desenvolvimento, são importantes que os professores façam uso de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso à criança com deficiência ao currículo e a sua interação no grupo, entre outras ações para promover a inclusão deste aluno.
Conforme visto e pesquisado em que a “descoberta” do sentimento de infância ocorreu entre os séculos XV e XVIII, quando se reconheceu que as crianças necessitavam de tratamento especial em espaços apropriados para que pudessem aprender e se desenvolver; o que repercutiu na prática da escolarização, pois antes disso ele eram tidas como mini adultos imersas no mundo do trabalho e de exigências sociais desmedidas para suas capacidades (Bernardes, 2015).
Na continuação sob esse pensamento de Amorim (2008, p. 51) ao declarar: “estudar a infância pela perspectiva de seus lugares é uma linha de investigação que vem sendo construída no Brasil”, considera também de fundamental importância a compreensão dessa fase da vida em seus diferentes contextos, ou seja, buscando-se analisar “como os arranjos sociais e culturais produzem as infâncias em seus diferentes espaços e tempos e como as crianças se apropriam dessas dimensões” (Lopes; Vasconcellos, 2015, p. 32 apud Amorim, 2018).
Desta forma, é importante salientar:
[…] a infância não se restringe somente às benzeções e simpatias. Há um amplo universo que envolve significações e materialidades, locais reais e simbólicos que evidenciam ‘as coisas de criança’, os ‘lugares de infância’, como a praça central existente na comunidade. “Esta desempenha um papel muito importante, pois é onde ocorrem os principais eventos, como as festas de cunho religioso, carnaval e outros encontros que fazem parte da rotina das pessoas” (Lopes, 2015, p.58).
As crianças são tomadas na perspectiva do futuro da humanidade, colocando-se, nelas, as expectativas de um mundo melhor. Na visão sócio-histórica de Postmann (1999), a infância é, assim, um artefato social, uma concepção, uma forma de ver, olhar, compreender e localizar as crianças; uma constituição presente nas localidades e sociedades, onde diferentes espaços e tempo se amalgamam.
A infância tem o poder de nos desafiar, porque tem uma essência original de se expressar. Logo, de acordo com Borba (2018) falar de infância não é algo simples como pode parecer. Ao contrário, esta fase é bastante complexa, marcada por paradoxos. Nesse sentido, ao longo da Modernidade, observou-se a infância como objeto de “paparicação”, mas também de moralização, controle e dominação por parte dos adultos; lugar idílico e ao mesmo tempo agonizante, de prazer absoluto e sofrimento, de esperança e medo, de redoma e barbárie, de vida e morte.
Assim faz-se importante valorizar as etapas da infância, sobretudo no que se refere ao período das brincadeiras e compreender o autismo abre caminhos para o entendimento do desenvolvimento. Estudar autismo é ter nas mãos um “laboratório natural” de onde se vislumbra o impacto da privação das relações recíprocas desde cedo na vida. Conviver com o autismo é abdicar de uma só forma de ver o mundo – aquela que nos foi oportunizada desde a infância. É pensar de formas múltiplas e alternativas sem, contudo, perder o compromisso com a ciência (e a consciência!) – com a ética. É percorrer caminhos nem sempre equipados com um mapa nas mãos, é falar e ouvir uma linguagem, é criar oportunidades de troca e espaço para o nosso saber e ignorância (Bosa, 2019).
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O AUTISMO
A criança com autismo vem enfrentando diversas lutas ao longo do tempo, em diversas vertentes, tais como a luta identitária, cultural, patológica e até mesmo, semântica, visto que há diferentes maneiras de nomeá-lo. Oliveira (2015) descreve que a respeito de tais lutas, é essencial trazê-las de forma mais explicativa. Faz-se necessário apresentar as caracterizações do autismo, a fim de, posteriormente, compreender como ele é visto no contexto escolar; desde a sua inserção até a importância da escola no desenvolvimento social e cognitivo da criança autista.
Então, segundo Schmidt (2019) trocas transdisciplinares constantes entre equipes e o professor estariam municiando a escola com as informações que contribuíram com a qualificação da experiência educacional do aluno com autismo. Ao mesmo tempo, o professor poderia colaborar com tal equipe oferecendo prestimosas informações sobre o dia a dia deste aluno, seus comportamentos e aprendizagem.
Dessa forma, o educador ao deparar-se com uma criança com TEA em sala de aula deve pensar o quanto é importante um trabalho coletivo entre os profissionais que atendem o aluno, tanto na escola como fora dela. Como também é essencial os professores procurarem formações e informações sobre autismo.
O comportamento das crianças autistas em relação a eventos ou estímulos que os antecedem pode variar significativamente, uma vez que o espectro do autismo é caracterizado por uma ampla gama de desafios comportamentais. Nas palavras de Ferreira e França (2017, p.32) “inserir uma criança Autista em uma sala de aula do ensino regular, requer uma série de demandas, para favorecer o bem estar e a adaptação correta do educando, por necessitar de cuidados específicos”.
Ainda nesta mesma linha, vem as dificuldades de profissionais qualificados, para realização de um trabalho necessário para aprendizagem das crianças com TEA, problema pelo qual a pesquisa ressalta, definindo uma intervenção adequada à problemática da criança com transtorno autista, e a participação ativa da família e do professor. Essa ação é necessária para inseri-la e ter a certeza que irá ser incluída, de acordo com seus limites, em todas as atividades propostas na sala de aula, agindo e interagindo em prol do bem estar e desenvolvimento (Brasil, 2015).
As interações sociais da pessoa com TEA são permeadas por dificuldades, pois o seu desenvolvimento emocional apresenta-se instável, ora com risos ora com choros inesperados. Em alguns casos, por haver um distanciamento entre o mundo construído por ela e o mundo real, fica difícil para os sujeitos com os quais vivência, compreender tais reações. Quaisquer mudanças na rotina da pessoa com TEA podem trazer desconforto e levar a criança ao desespero, o que por algumas vezes pode perturbar o convívio com outras pessoas (Silva, 2017).
Importante elucidar o papel da escola no tocante à questão da aprendizagem, visto que a mesma deve zelar pelo desenvolvimento da criança, respeitando as suas limitações. Agora há de se entender que tanto a escola, quanto a família, deve colaborar no processo, complementando e articulando suas ideias, já que, formam juntas as principais Instituições que oportunizam a educação ampla da vida do sujeito.
Considerando que as pessoas com TEA diferem entre si e que suas necessidades educativas especiais também, é possível considerar que para que as interações ocorram é necessário fazer com que ela compreenda a relação estabelecida de maneira prática: se for uma atividade lúdica, que seja explicada em poucas palavras (devido ao comprometimento da linguagem): como participar da atividade, como iniciá-la, como se desenvolve e como será finalizada. Tudo tem que ser explicado, pois favorece a organização das pessoas com TEA. Sem essa organização não há compreensão e isso inviabiliza a interação (Oliveira, 2020).
Em alguns casos, a desestruturação no ambiente repercute na pessoa com TEA gerando birras, irritabilidade, instabilidade no comportamento, deixam-na desconcertada e ansiosa para sair daquele local. Nesses momentos é necessário acalmar, reconquistar, sair do ambiente que provoca a irritação para somente depois, quem sabe, trazê-las de volta, tentando outra estratégia de interação (Brasil, 2015).
Pensando nesses fatores como fontes de conhecimento é essencial considerar a diversidade presente nas salas de aula e estar preparado para os processos inclusivos. Para Mantoan (2015, p. 28), a inclusão pressupõe alterações na visão educacional que alcançam não somente os alunos com deficiência, mas todos os demais. A educação inclusiva atende todos os educandos sem discriminação ou segregação, “sem estabelecer regras específicas para planejar, ensinar e avaliar alguns por meio de currículos adaptados, atividades diferenciadas, avaliação simplificada em seus objetivos”.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Assim, a Lei n. 13.977/20, conhecida por Lei Romeu Mion, criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa lei é federal, ou seja, válida em todo o Brasil e alterou na perspectiva de melhorias a Lei Berenice Piana, 12.764/2012. Ela facilita o acesso a direitos básicos e essenciais e permite o planejamento de políticas públicas, entre elas a educação para os autistas, pois mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/1996 em seu artigo 2º garantir que “a educação é direito de todos e dever da família e do Estado cabendo aos pais, na idade própria, matricular seus filhos na rede escolar, cumprindo ao Estado a responsabilidade de oferecer vagas e condições adequadas de ensino” a prática não garante tal ação.
Seguindo ainda nessa perspectiva do disposto no artigo 2º da LDB, vale salientar que o direito e o dever precisam ser efetivados pela família e o Estado, sendo de competência dos pais, na idade própria, matricular seus filhos na rede escolar, e do Estado a responsabilidade de oferecer estrutura e funcionamento adequada de ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise das políticas públicas educacionais na perspectiva da inclusão revela um processo contínuo e desafiador para garantir que todos os indivíduos, independentemente de suas condições socioeconômicas, culturais, ou de necessidades específicas, tenham acesso a uma educação de qualidade. A inclusão, mais do que um princípio, é um direito fundamental que deve ser consolidado por meio de práticas pedagógicas e políticas que promovam a equidade e o respeito à diversidade.
As políticas públicas voltadas para a educação inclusiva têm avançado ao longo dos anos, mas ainda enfrentam obstáculos significativos, como a falta de infraestrutura adequada, a escassez de formação e capacitação dos profissionais de ensino, e a resistência de certos segmentos da sociedade em compreender a diversidade como um valor positivo e enriquecedor para o ambiente escolar.
É necessário que a inclusão seja vista como um compromisso social, que envolve não apenas o governo, mas também a sociedade civil, as instituições de ensino e as famílias. A construção de uma educação inclusiva demanda um esforço conjunto para superar barreiras estruturais, ideológicas e pedagógicas, promovendo, assim, um sistema educacional mais justo e democrático.
Portanto, as políticas públicas de inclusão devem ser continuamente avaliadas e aprimoradas, a fim de garantir que todos os estudantes, independentemente de suas características, tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem. As perspectivas de inclusão e equidade devem ser centralizadas nas estratégias educacionais, com a implementação de ações que abordem desde a formação inicial dos professores até a criação de ambientes educacionais acessíveis e acolhedores.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, Paulo Nunes. Educação lúdica: teorias e práticas. Reflexões e fundamentos. 1ª edição. Volume 1. São Paulo: Edições Loyola. São Paulo/SP. (2018 p. 5 do artigo 37).
BRASIL. Lei de Diretrizes e bases da educação nacional. Lei 9.394/96.
BRUNER, Jerome. Atos de significação. Porto Alegre: Artes Médicas. 2018.
BRANCO, A. U.; MACIEL, D. A., QUEIROZ, N. L. N. Brincadeira e desenvolvimento infantil: Um olhar sociocultural construtivista. Paidéia, 16(34), 169-179. 2016.
BRASIL. LEI Nº 13.977, DE 8 DE JANEIRO DE 2020.
BRASIL. Lei nº 12.764 de 27/12/2012.
BOSA, Cleonice. Autismo e educação: reflexões e propostas de intervenção. Porto Alegre: Artmed, 2019.
DIAS, Nadla dos Santos. Autismo: estratégias de intervenção no desafio da inclusão no âmbito escolar, na perspectiva na análise do comportamento. Psicologia PT O Portal dos Psicólogos. 2017.
DUPAS, Giselle. et al. Criança com transtorno do espectro autista: cuidado na perspectiva familiar. Esc Anna Nery 2018;22(4).
FERREIRA, Mônica Misleide Matias; FRANÇA, Aurenia Pereira de. O Autismo e as Dificuldades no Processo de Aprendizagem Escolar. Id on Line Rev. Mult.Psic. V.11, N. 38.2017
GOFFREDO, Vera Lúcia Flor Sénéchal de. Educação: Direito de todos os brasileiros. In: BRASIL. Ministério da Educação. Salto para o Futuro: Educação Especial: tendências atuais. Brasília: Secretaria de Educação à Distância, 2016. p. 27-34
LOPES, Jader Janer Moreira. “É coisa de criança”: reflexões sobre geografia da infância e suas possíveis contribuições para pensar as crianças. In: In: VASCONCELLOS, Tânia de (Org.). Reflexões sobre Infância e Cultura. Niterói : EdUFF, 2008.
LOPES, Jader Janer Moreira; VASCONCELOS, Tânia de. Reflexões sobre infância e cultura. 1ª ed. Niterói/RJ. 2015.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. A educação especial no Brasil: Da exclusão à inclusão escolar. 2015.
MACIEL, Maria Regina Cazzaniga. Portadores de deficiência: a questão da inclusão social. In: São Paulo em Perspectiva,v. 14, n. 2. São Paulo, abr./jun. 2017, p. 51-56.
MENEGAT, José; RAMOS, Paulo. Avaliação da aprendizagem no contexto da pandemia: concepções e práticas docentes. Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, v. 32, e08170, 2021.
OLIVEIRA, Leny; BARBOSA, Zenilda. Desafios do ensino aprendizagem da criança autista na educação infantil. Curso de Pedagogia, da Faculdade Multivix Cariacica –ES. 2014.
PINHEIRO, Renata da Conceição da Silva . et al. Identificação do papel do enfermeiro na assistência ao autismo. Centro Universitário Católico de Quixadá. Mostra Interdisciplinar do curso de Enfermagem, Volume 02, Número 2, Dez. 2016.
POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999.
SANTOS, Pricila Kohls. O REVISITAR DA METODOLOGIA DO ESTADO DO CONHECIMENTO PARA ALÉM DE UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. Revista Panorâmica Online, 33. 2021.
VYGOTSKY, Lev S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987. – A Formação Social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
Referencias
Share this :
Área do Conhecimento