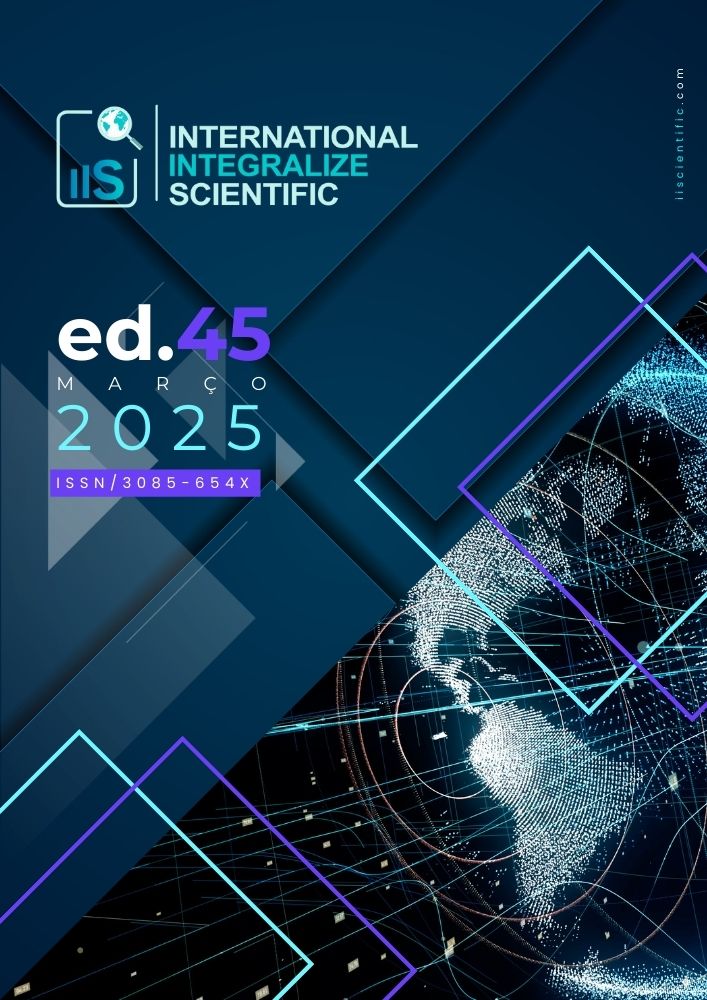Audiência de custódia no brasil: avaliação da efetividade no controle das prisões preventivas.
CUSTODY HEARING IN BRAZIL: EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CONTROLLING PREVENTIVE DETENTION
AUDIENCIA DE CUSTODIA EN BRASIL: EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Autor
Avelino Thiago dos Santos Moreira
Resumo
Summary
Resumen
INTRODUÇÃO
A audiência de custódia foi implementada no Brasil em 2015 com o objetivo de garantir que toda pessoa presa em flagrante seja apresentada a um juiz no prazo máximo de 24 horas, conforme as recomendações de organismos internacionais de direitos humanos. Essa medida visa coibir prisões arbitrárias, prevenir torturas e maus-tratos, além de buscar a redução do encarceramento em massa, uma realidade preocupante no sistema prisional brasileiro. No entanto, a efetividade dessa prática continua sendo objeto de debate, especialmente no que diz respeito à sua capacidade de controlar as prisões provisórias e assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos detidos.
O Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do mundo, sendo que uma grande parte dos detentos está em situação provisória. O uso excessivo da prisão preventiva contribui para a superlotação dos presídios e afeta diretamente princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal e a presunção de inocência. A audiência de custódia surgiu como um instrumento para evitar detenções desnecessárias, assegurando que a prisão somente ocorra quando estritamente necessária. Contudo, a implementação dessa medida enfrenta desafios significativos, incluindo a falta de infraestrutura adequada, a escassez de recursos humanos qualificados e resistências institucionais, os quais podem comprometer sua eficácia. Além disso, fatores sociais e econômicos influenciam a forma como as audiências são aplicadas e seus resultados.
Neste contexto, o presente estudo busca avaliar a eficácia da audiência de custódia no controle das prisões provisórias, analisando seu impacto na redução do encarceramento e na prevenção de abusos. Além disso, serão investigadas as principais falhas e desafios enfrentados na prática, com o objetivo de sugerir melhorias que possam tornar esse procedimento mais eficiente e justo. A relevância da pesquisa se justifica pelo momento atual da justiça criminal brasileira, caracterizado pela superlotação carcerária e pelo uso excessivo da prisão preventiva, além da necessidade urgente de aperfeiçoar mecanismos que garantam maior efetividade na proteção dos direitos dos presos e na racionalização do sistema prisional. Torna-se essencial compreender até que ponto a audiência de custódia tem contribuído para a democratização da justiça e a garantia dos direitos fundamentais, assim como identificar estratégias que possam aprimorar esse procedimento, tornando-o mais acessível e eficiente.
BREVES ASPECTOS NORMATIVOS DAS PRISÕES PROVISÓRIAS
O ordenamento jurídico brasileiro classifica as penas em três tipos: privativas de liberdade, restritivas de direitos e pecuniárias, com destaque para a pena privativa de liberdade, que impede o indivíduo de conviver socialmente e restringe sua liberdade de ir e vir. Essa pena é subdividida em reclusão, detenção e prisão simples (Nucci, 2014). Conforme Lima (2020, p. 851), a palavra “prisão” deriva do latim prensione, que significa prender, sendo utilizada tanto para descrever a pena privativa de liberdade quanto a captura de indivíduos por mandado judicial ou flagrante delito, e até mesmo para designar o próprio estabelecimento prisional (CF, art. 5°, inciso LXVI; CPP, art. 288, caput).
A prisão se divide em duas categorias principais: a pena de prisão e a prisão cautelar. A primeira é imposta após o trânsito em julgado da sentença penal, conforme a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84). Já a prisão cautelar ocorre antes desse trânsito, com o objetivo de garantir a eficácia das investigações ou do processo criminal (Lima, 2020, p. 875). Lopes Júnior (2020) explica que as medidas cautelares têm natureza processual penal e visam proteger o processo e assegurar sua regular tramitação. Elas se fundamentam em dois elementos principais: o fumus comissi delicti, que se refere à presunção de ocorrência do delito com provas materiais e indícios de autoria, e o periculum libertatis, que avalia o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública ou para o processo criminal (Corezzi Pinheiro, 2023).
No que diz respeito às prisões em flagrante e temporária, ambas possuem prazos estipulados pela legislação. A prisão em flagrante deve ser imediatamente comunicada ao juiz, com o envio do auto de prisão em até 24 horas para a audiência de custódia, na qual se decide pela manutenção da prisão preventiva, relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória (Brasil, 1941). A prisão temporária tem prazo inicial de cinco dias, podendo ser prorrogado por igual período em casos excepcionais. Para crimes hediondos, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias (Brasil, 1941). A prisão preventiva, conforme a Constituição Federal de 1988, está prevista no artigo 5°, inciso LXVI, que afirma que “ninguém será levado à prisão nem nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória” (Brasil, 1988).
A prisão preventiva é uma medida cautelar com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a conveniência da instrução criminal. Segundo Capez (2016, p. 916), sua natureza é cautelar e visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, que pode ser comprometido pela demora. A prisão preventiva deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos legais, como a “conveniência da instrução criminal” e a “exequibilidade da pena”, sem caráter punitivo exclusivo. A violação desses critérios implica na violação da presunção de inocência, configurando a prisão como arbitrária.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: FINALIDADE E DESAFIOS
A audiência de custódia foi instituída no Brasil com o objetivo de garantir a rápida apresentação de indivíduos presos em flagrante a um juiz, assegurando a legalidade da prisão e prevenindo abusos. Prevista na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução nº 213/2015, essa medida visa resguardar direitos fundamentais, como a presunção de inocência e a integridade física e psicológica do detido. Além disso, permite a avaliação da necessidade de manutenção da prisão, podendo resultar na concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares (Brasil, 2015; Távora, 2016; Cardoso, 2023).
Desde sua implementação, em 2015, as audiências de custódia causaram um impacto significativo na justiça criminal brasileira. Segundo o relatório Audiência de Custódia: 6 Anos, publicado pelo CNJ, foram realizadas mais de 750 mil audiências em todo o país, com a participação de aproximadamente 2 mil magistrados. Esse mecanismo tem desempenhado um papel fundamental na redução do número de presos provisórios, contribuindo para uma diminuição de 10% dessa população carcerária (CNJ, 2021).
Outro aspecto relevante das audiências de custódia é sua função na identificação e prevenção de casos de tortura e maus-tratos no momento da prisão. Conforme apontado pelo CNJ (2021), o acompanhamento imediato por um juiz permite a verificação de indícios de violência, proporcionando maior proteção aos direitos humanos e alinhando o Brasil às melhores práticas internacionais.
Apesar dos avanços, as audiências de custódia ainda enfrentam desafios estruturais e institucionais. Um dos principais obstáculos é a infraestrutura inadequada em diversas unidades judiciárias, o que compromete a eficácia do procedimento. A falta de capacitação adequada de magistrados, membros do Ministério Público e defensores públicos também impacta a aplicação correta do instituto, diminuindo seu potencial de garantir decisões justas e equilibradas. Além disso, persiste resistência por parte de setores do sistema de justiça criminal e da segurança pública, que alegam que a audiência de custódia favoreceria a impunidade e aumentaria a criminalidade. Contudo, estudos demonstram que a redução de prisões arbitrárias contribui para um sistema penal mais justo e eficaz, evitando o aprisionamento desnecessário de indivíduos que poderiam responder ao processo em liberdade (CNJ, 2021; Cardoso, 2023; Silveira, 2023).
Para superar esses desafios, o CNJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), tem promovido diversas iniciativas de aprimoramento. Dentre essas, destacam-se a publicação de manuais técnicos e a realização de eventos de capacitação, com o objetivo de qualificar os profissionais envolvidos e consolidar uma cultura de respeito aos direitos fundamentais no sistema de justiça criminal brasileiro (CNJ, 2021).
Assim, as audiências de custódia representam um avanço significativo na garantia dos direitos fundamentais e na redução do encarceramento provisório. No entanto, para que cumpram plenamente sua finalidade, é essencial que sejam aprimoradas as condições estruturais, a capacitação dos profissionais envolvidos e a consolidação de mecanismos que garantam sua efetiva implementação em todo o território nacional (CNJ, 2021; Cardoso, 2023).
O ENCARCERAMENTO EM MASSA E AS PRISÕES PREVENTIVAS
O encarceramento em massa no Brasil tem se consolidado como um dos maiores desafios do sistema penal, com impactos significativos nos direitos fundamentais e na gestão do sistema penitenciário. A expansão da população carcerária está diretamente relacionada às prisões provisórias, que representam uma parcela considerável dos detentos. A prisão provisória, por definição, deveria ser uma medida excepcional, aplicada apenas quando estritamente necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. No entanto, na prática, observa-se um uso excessivo dessa medida, muitas vezes em detrimento de alternativas menos gravosas, como as medidas cautelares diversas da prisão.
Em 2020, o Brasil ocupava o terceiro lugar no ranking das maiores populações carcerárias do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. De acordo com dados do Sistema de Informação Penitenciária (INFOPEN), havia aproximadamente 748 mil presos no país, sendo que cerca de 200 mil correspondem a presos provisórios — indivíduos que ainda aguardavam o trânsito em julgado de suas sentenças. Dessa forma, aproximadamente 30,43% da população carcerária nacional encontrava-se nessa condição, contribuindo diretamente para o problema da superlotação (Brasil, 2020).
Além disso, o Brasil possuía um déficit de aproximadamente 213 mil vagas no sistema prisional, o que resultava em uma taxa de ocupação de 169% (Brasil, 2020). Esse colapso do sistema prisional, conforme apontado por Machado e Guimarães (2014), evidencia a negligência do Estado, comprometendo tanto a reabilitação dos apenados quanto a segurança da sociedade. Wabad (2024) destaca que os desafios que afligem as prisões, como a superlotação carcerária e a falta de assistência adequada, impactam diretamente a saúde e o bem-estar dos detentos, agravando problemas estruturais como a falta de higiene, assistência médica e condições mínimas de dignidade.
Os desafios estruturais, como a gestão deficitária, a escassez de profissionais capacitados, a corrupção e a falta de programas eficazes de ressocialização, contribuem para a perpetuação do ciclo de violência e reincidência (Armstrong, 2020). A precariedade do sistema prisional torna as unidades penitenciárias vulneráveis ao controle de organizações criminosas, intensificando a violência interna e comprometendo ainda mais a função ressocializadora da pena (Wabad, 2024).
O encarceramento indiscriminado de presos provisórios têm se mostrado ineficaz na redução da violência, agravando ainda mais os problemas do sistema penal. Foucault (2014, p. 280) argumenta que “as prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentá-las, multiplicá-las e transformá-las […], mas a detenção provoca a reincidência; depois de sair da prisão, tem-se mais chances de voltar para ela”.
Com isso, compreender a relação entre as prisões provisórias e o encarceramento em massa é essencial para a busca de soluções que promovam um sistema penal mais justo e eficaz. A adoção de medidas que reduzam o uso indiscriminado da prisão provisória pode representar um importante passo na reversão do quadro atual, garantindo que apenas aqueles que realmente necessitam permanecer sob custódia sejam privados de sua liberdade. O direito à liberdade e a segurança da sociedade devem ser equilibrados por meio de mecanismos que garantam a razoável duração do processo e a efetiva aplicação da lei penal, sem comprometer os princípios fundamentais da dignidade humana e da presunção de inocência.
METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia adotada classifica o estudo como básico, devido ao seu caráter científico, sem interesse comercial (Gil, 2015). Quanto à abordagem, o problema investigado é qualitativo, uma vez que não visa quantificar ou medir unidades, mas sim compreender fenômenos de forma subjetiva, caracterizando-se como uma pesquisa comum das ciências sociais. A análise dos dados será realizada por meio da hermenêutica do pesquisador (Severino, 2017).
Em relação aos objetivos, a pesquisa tem natureza exploratória, utilizando a técnica de revisão bibliográfica. As fontes de pesquisa incluem estudos previamente publicados, como artigos, revistas, dissertações e outros materiais, disponíveis em bases de dados como SCIELO (Scientific Electronic Library Online), Portal de Periódicos da CAPES, e diversas revistas jurídicas acessadas via Google Acadêmico. Além disso, as fontes normativas foram consultadas nos sites oficiais do Planalto e do Senado Federal.
Para essa revisão, foram selecionados estudos publicados entre 2015 e 2025, em português e inglês, que estavam relacionados ao tema proposto, utilizando os seguintes descritores: Prisões provisórias; Prisões cautelares; Audiência de custódia; Encarceramento em massa. O período da pesquisa realizada, ocorreu no mês de março de 2025.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica abrangente, com o objetivo de compreender os desafios enfrentados pelo sistema penal brasileiro, focando particularmente na criminalidade organizada e na eficácia das políticas públicas voltadas para o combate ao crime. Ao todo, foram analisados 15 artigos, publicados em periódicos nacionais e internacionais, além de uma tese de dissertação. Essas fontes forneceram uma visão detalhada sobre a atuação das facções criminosas, a ineficácia do sistema prisional e as falhas nas políticas de enfrentamento ao crime organizado.
Além dos artigos científicos, foram consultados 4 livros doutrinários de autores renomados nas áreas de Direito Penal, Criminologia e Segurança Pública. Essas obras ofereceram o embasamento teórico necessário para compreender o conceito de organização criminosa, a evolução das legislações brasileiras sobre o crime organizado e modelos internacionais de repressão a essas atividades ilícitas.
Um dos achados centrais da pesquisa é a constatação de que o uso excessivo da prisão, particularmente da prisão provisória, representa um problema estrutural no sistema penal brasileiro, contribuindo significativamente para a superlotação carcerária e a ineficácia do processo de ressocialização. A prisão provisória, que deveria ser uma medida excepcional, tem sido aplicada de maneira indiscriminada, o que resultou em uma expressiva população carcerária temporária. Dados de 2020 indicam que aproximadamente 30% da população carcerária brasileira era composta por presos provisórios (Brasil, 2020), o que demonstra a urgência de reavaliar as práticas relacionadas ao uso dessa medida.
A audiência de custódia, instituída em 2015, surge como um mecanismo importante para mitigar os efeitos negativos da prisão provisória, oferecendo uma análise célere sobre a legalidade da prisão e a necessidade de manutenção da privação de liberdade. A Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a audiência de custódia tem como objetivos garantir direitos fundamentais, como a presunção de inocência e a integridade física e psicológica do detido, além de prevenir abusos como tortura e maus-tratos (CNJ, 2021).
A jurisprudência brasileira tem reforçado a importância das audiências de custódia no controle das prisões provisórias. No julgamento do Habeas Corpus nº 186.490, o Supremo Tribunal Federal (STF) enfatizou que a ausência da audiência de custódia não implica, por si só, a nulidade da prisão preventiva. No entanto, o STF reconheceu a audiência como um direito fundamental do preso, essencial para a verificação de eventuais ilegalidades na prisão e para a proteção contra abusos. O STF argumentou que:
Toda pessoa que sofra prisão em flagrante – qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato criminoso, mesmo que se trate de delito hediondo – deve ser obrigatoriamente conduzida, “sem demora”, à presença da autoridade judiciária competente, para que esta, ouvindo o custodiado “sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão” e examinando, ainda, os aspectos de legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, possa (a) relaxar a prisão, se constatar a ilegalidade do flagrante (CPP, art. 310, I), (b) conceder liberdade provisória, se estiverem ausentes as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal ou se incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal (CPP, art. 310, III), ou, ainda, (c) converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP, art. 310, II) (Brasil, 2020).
Esse posicionamento do STF reforça a necessidade de garantir o direito à liberdade provisória, sempre que não haja fundamentos legais para a manutenção da prisão, e sublinha a importância da audiência de custódia no controle das prisões provisórias, visando prevenir abusos e assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos detidos.
Este mecanismo tem sido considerado eficaz na redução da população de presos provisórios, com uma diminuição de cerca de 10% nesse grupo desde sua implementação (CNJ, 2021). Além disso, a audiência de custódia permite a identificação de práticas de violência policial, representando um avanço importante no fortalecimento dos direitos humanos dentro do sistema penal.
A implementação da audiência de custódia no Brasil enfrentou desafios significativos, tanto de ordem estrutural quanto ideológica. Inicialmente, a falta de infraestrutura adequada nas instituições judiciais e a resistência de setores como a Defensoria Pública e o Ministério Público dificultaram a celeridade do processo. A ausência de fóruns em algumas regiões e a necessidade de deslocamento dos presos até os locais de apresentação geraram custos adicionais e sobrecarregaram o sistema (Etiene; Rabelo, 2024). Além disso, a falta de capacitação de magistrados, defensores públicos e membros do Ministério Público comprometeu a eficácia do instituto, tornando sua aplicação ainda mais desafiadora.
A cultura de encarceramento em massa, ainda prevalente em muitas instituições e segmentos da sociedade brasileira, também exerce influência sobre as decisões judiciais durante as audiências, especialmente diante da pressão popular (Etiene; Rabelo, 2024, p. 6). Essa mentalidade pode prejudicar a análise objetiva da legalidade da prisão, resultando em decisões que priorizam a punição ao invés da avaliação das condições necessárias para a prisão preventiva.
Ademais, persiste uma resistência ideológica por parte de algumas instituições do sistema de justiça criminal, que consideram a audiência de custódia como uma medida que facilita a impunidade. Conforme os estudos de Calazans (2023), pode-se perceber a resistência por parte de setores do Judiciário e do Ministério Público, em parte devido à falta de estrutura adequada e à cultura do encarceramento que predomina no Brasil. Nesse contexto, é fundamental que o Ministério Público não atue apenas como um mero acusador, cuja única missão seria aplicar penas, mas sim como um agente que deve garantir a justiça de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O Ministério Público deve buscar sempre a efetividade da justiça, sem desrespeitar os direitos fundamentais dos detidos (Calazans, 2023, p. 94).
Pesquisas indicam que a audiência de custódia tem contribuído significativamente para a redução das prisões arbitrárias, ajudando a evitar o encarceramento desnecessário de indivíduos que poderiam responder ao processo em liberdade (CNJ, 2021). Este avanço reflete um sistema penal mais eficiente e justo, pois a audiência garante uma análise imediata da legalidade das prisões, além de assegurar os direitos fundamentais dos detidos. A prática tem se mostrado eficaz também na prevenção de abusos cometidos por agentes do Estado, como tortura e maus-tratos, promovendo maior controle sobre as condições de detenção e minimizando os abusos físicos ou psicológicos (Aith, 2023).
Conforme observa Tomaz Júnior (2023), a implementação da audiência de custódia, apesar das dificuldades iniciais, trouxe avanços significativos ao ordenamento jurídico brasileiro. Ela assegura a proteção dos direitos humanos dos detidos, garantindo-lhes o direito à informação sobre as razões de sua prisão, o direito ao silêncio e a assistência jurídica. Além disso, tem o benefício de evitar detenções arbitrárias, contribuindo para um processo penal mais equitativo, onde as decisões sobre a prisão são mais fundamentadas e rápidas. Esse avanço fortalece a credibilidade do sistema judicial, tornando-o mais transparente e justo.
Outro impacto relevante da audiência de custódia é o descongestionamento do sistema carcerário. Ao possibilitar uma análise rápida da necessidade de manutenção da prisão, ela oferece alternativas, como medidas cautelares, que podem ajudar a reduzir a superlotação nas prisões. Além disso, a audiência contribui para a celeridade processual e aumenta a transparência, promovendo um compromisso com os direitos individuais desde o início do processo penal. Essa prática também fortalece a conscientização sobre as práticas policiais, incentivando o respeito aos direitos humanos, o que resulta em um processo penal mais justo e equitativo (Tomaz Júnior, 2023).
Embora as audiências de custódia tenham conseguido reduzir o número de prisões provisórias em alguns estados, pesquisas mostram que essa redução não é homogênea. No Tocantins, por exemplo, apesar da implementação do mecanismo, o índice de detenções preventivas continua elevado. Esse fenômeno é, em parte, explicado pela falta de defensores públicos e pela precariedade do sistema judiciário local, o que dificulta a aplicação eficaz das audiências de custódia (Vilanova; Mota, 2019).
De maneira semelhante, Da Silveira (2024) analisou, em estudo empírico realizado na comarca de Pelotas/RS, a aplicação das audiências de custódia nos casos de prisões provisórias. O autor destaca que, embora o mecanismo tenha sido implementado, persistem desafios significativos quanto à sua efetividade, como a sobrecarga do sistema judiciário e a necessidade de aprimoramento na formação dos profissionais envolvidos.
O artigo “Encarceramento e desencarceramento no Brasil: a audiência de custódia como espaço de disputa”, de Azevedo, Sinhoretto e Silvestre (2022), analisa o crescimento contínuo da população carcerária brasileira desde a Constituição de 1988, ressaltando o elevado percentual de presos provisórios.
O crescimento do encarceramento brasileiro pode ser explicado, em parte, por uma demanda punitiva que encontrou respaldo tanto nos legisladores quanto na atuação das instituições de segurança pública e justiça criminal, mas que não surtiu o efeito esperado de queda da criminalidade (Azevedo; Sinhoretto; Silvestre, 2022, p. 267).
Apesar da ampliação das alternativas penais nesse período, observa-se a coexistência entre o encarceramento e essas medidas alternativas. A pesquisa utiliza dados de audiências de custódia para discutir as tensões entre políticas de desencarceramento e a mentalidade punitiva predominante. Por meio de observações diretas das audiências e entrevistas com operadores do direito, o estudo identifica padrões de escolha e mecanismos de seletividade que refletem as concepções dos profissionais jurídicos sobre crime, criminoso e punição. Além disso, analisa as mentalidades institucionais no campo jurídico e suas implicações nas opções de política criminal, fornecendo uma interpretação teórica desses dados (Azevedo; Sinhoretto; Silvestre, 2022).
Conforme argumentam Sena et al. (2023) em seu artigo, as audiências de custódia no Brasil enfrentam críticas no que diz respeito ao seu papel dentro do sistema de justiça criminal, especialmente quanto aos desafios relacionados à segurança pública. Em países como Espanha, Estados Unidos, Alemanha e Portugal, esse procedimento já está consolidado e demonstrou maior eficiência na redução de prisões desnecessárias, contribuindo para um sistema penal menos sobrecarregado e mais voltado para a reabilitação do detido (Sena et al., 2023, p. 4).
A experiência internacional demonstra que a implementação eficiente das audiências de custódia depende de um sistema estruturado, com defensores públicos suficientes, magistrados capacitados e protocolos bem definidos para avaliação das prisões em flagrante. Em Portugal, por exemplo, o controle judicial imediato sobre a legalidade da prisão permitiu uma significativa redução no número de detenções arbitrárias, sem comprometer a segurança pública. Nos Estados Unidos, a análise da necessidade da prisão preventiva é acompanhada por critérios objetivos, incluindo risco à sociedade e possibilidade de reincidência, assegurando um equilíbrio entre os direitos individuais e a proteção coletiva. Esses exemplos reforçam que, com investimentos adequados e uma mudança de mentalidade, a audiência de custódia pode desempenhar um papel ainda mais relevante no Brasil.
No entanto, os autores também argumentam que, embora as audiências de custódia tenham sido implementadas para garantir os direitos dos detidos e prevenir abusos, há uma percepção de que elas possam representar riscos à segurança pública ao possibilitar a liberação de indivíduos potencialmente perigosos. O estudo analisa dados empíricos e discute a tensão entre a proteção dos direitos individuais e a necessidade de segurança coletiva, questionando se o sistema atual consegue equilibrar adequadamente esses dois interesses (Sena et al., 2023).
Outro problema apontado por especialistas é que, apesar do propósito de desencarceramento, muitas audiências de custódia acabam se tornando um procedimento meramente formal. Em diversos casos, os juízes optam por converter a prisão em preventiva sem realizar uma análise aprofundada das circunstâncias do caso, perpetuando o encarceramento excessivo (Sena et al., 2023). A falta de infraestrutura e a sobrecarga do sistema de justiça também dificultam a aplicação eficaz desse mecanismo, comprometendo sua eficiência (Pereira, 2022).
A prisão preventiva, como medida cautelar, deveria ser aplicada apenas nas situações previstas pela norma, como a necessidade de garantir a ordem pública ou a instrução criminal, sem que sua aplicação tenha caráter punitivo antecipado (Marques; Lourenço, 2024; Niyazov, 2022). Observa-se:
Segundo o Relatório sobre o uso da prisão preventiva nas Américas, produzido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH (2013), o uso abusivo e generalizado da prisão provisória é um dos grandes entraves à consolidação de democracias estáveis na região, atestando que em média 40% da sua população carcerária se encontram na situação de cautelaridade (Marques; Lourenço, 2024, p. 150).
O descumprimento dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva pode resultar em uma violação da presunção de inocência, configurando uma medida excessiva e arbitrária. A crítica à aplicação indiscriminada da prisão preventiva se intensifica no contexto do encarceramento em massa, que agrava a superlotação das unidades prisionais, comprometendo não apenas a saúde, mas também os direitos dos detentos (Wabad, 2024). Foucault (2014) argumenta que a prisão, longe de reduzir a criminalidade, tende a aumentar a reincidência, perpetuando o ciclo de violência e marginalização.
O 3º Fórum Nacional de Alternativas Penais (FONAPE), realizado em 2023, discutiu amplamente a problemática do encarceramento em massa no Brasil e as alternativas à prisão. A questão foi abordada à luz das Regras de Tóquio da ONU, que completaram 30 anos de sua adoção. Esse fenômeno está diretamente relacionado ao uso excessivo da prisão provisória, uma medida cautelar frequentemente aplicada sem justificativas claras e adequadas. Isso resulta na superlotação das prisões e no agravamento das condições de vida dos apenados, como destacado no evento (Brasil, 2023).
Segundo Etiene e Rabelo (2024), a cultura do encarceramento em massa, ainda predominante em diversos setores da sociedade, influenciou negativamente a aceitação das audiências de custódia, frequentemente percebidas como um estímulo à impunidade. Essa resistência também se manifestou entre as forças policiais. A Associação de Delegados de São Paulo, por exemplo, contestou a prática sob a alegação de que ela favoreceria a soltura de criminosos perigosos, o que gerou críticas e distorções sobre o real objetivo da medida.
A cultura punitivista enraizada no Brasil influencia diretamente a resistência às audiências de custódia. A ideia de que a repressão severa e o encarceramento em massa são soluções eficazes para a criminalidade tem sido amplamente difundida na sociedade e em setores do próprio sistema de justiça. Esse viés punitivista muitas vezes obscurece a função da audiência de custódia, que não tem como objetivo beneficiar criminosos, mas sim garantir que detenções arbitrárias ou desnecessárias sejam evitadas. Sem um esforço para desconstruir essa mentalidade, as dificuldades na implementação plena das audiências de custódia tendem a persistir.
Além disso, o sistema prisional brasileiro enfrenta dificuldades estruturais significativas, como a escassez de vagas, a ausência de assistência adequada e a gestão deficitária. Esses problemas impactam diretamente as condições de detenção e dificultam a ressocialização dos presos. A superlotação das penitenciárias compromete não apenas a segurança pública, mas também a dignidade dos apenados (Brasil, 2020; Machado; Guimarães, 2014). A precariedade do sistema carcerário também favorece o controle das unidades por organizações criminosas, intensificando a violência interna e a fragilidade do sistema prisional (Wabad, 2024).
Nesse contexto, a adoção de alternativas à prisão provisória, como as medidas cautelares diversas da prisão, torna-se fundamental para reduzir a população carcerária e fortalecer um sistema penal mais eficiente e justo. As audiências de custódia representam uma resposta relevante a esse cenário, contribuindo para o controle das prisões provisórias, a proteção dos direitos humanos e a prevenção de abusos. No entanto, sua implementação ainda enfrenta desafios, como a necessidade de melhorias estruturais e capacitação contínua dos profissionais envolvidos (CNJ, 2021; Brasil, 2023).
As medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, a restrição de circulação e a obrigação de comparecimento periódico à Justiça, têm demonstrado eficiência na redução do encarceramento provisório sem comprometer a segurança pública. Estudos indicam que a aplicação dessas medidas, quando bem regulamentadas e fiscalizadas, reduz o índice de reincidência e permite um melhor acompanhamento dos acusados pelo sistema judicial. No entanto, a eficácia dessas alternativas depende de sua correta aplicação e fiscalização, o que exige investimentos em tecnologia, capacitação de agentes e um aprimoramento na regulamentação dessas medidas para evitar distorções ou abusos.
Souza et al. (2021) enfatizam a importância de aprimorar a formação dos profissionais do sistema de justiça, investir em infraestrutura e fomentar uma cultura de respeito aos direitos humanos para que as audiências de custódia cumpram seu papel na proteção dos direitos fundamentais e na redução da população carcerária. Da Silveira (2024), por sua vez, ressalta a necessidade de uma análise crítica e contextualizada da prática das audiências de custódia, levando em consideração as especificidades locais e seus impactos no sistema de justiça penal.
Apesar das limitações, as audiências de custódia representam um avanço na garantia dos direitos humanos no sistema penal brasileiro. No entanto, para ampliar seu impacto, é essencial investir na capacitação de magistrados, fortalecer a Defensoria Pública e promover mudanças na cultura punitivista ainda presente no país. Somente com esses avanços será possível garantir que esse instrumento cumpra sua função de controle das prisões provisórias e contribua para a redução do encarceramento em massa (Souza; Teixeira; Nantes, 2021; Cordeiro; Coutinho, 2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise das prisões provisórias e de suas implicações no sistema penal brasileiro evidencia desafios estruturais e institucionais que comprometem os direitos fundamentais dos indivíduos, a eficiência do processo judicial e a funcionalidade do sistema prisional. Embora a prisão provisória devesse ser uma medida excepcional, sua aplicação indiscriminada tem impulsionado o encarceramento em massa, refletindo a insuficiência na adoção de alternativas menos gravosas. Como consequência, o sistema carcerário brasileiro enfrenta superlotação, precariedade nas condições de detenção e um ciclo vicioso de violência e reincidência.
O uso abusivo da prisão provisória se consolida como uma das principais causas da crise prisional no país. A falta de vagas, a superlotação das unidades e as condições desumanas de encarceramento inviabilizam a ressocialização dos detentos, tornando as penitenciárias ambientes de agravamento da criminalidade em vez de espaços de reintegração social. Além disso, a precariedade estrutural das prisões e a sobrecarga do sistema judiciário, marcadas pela escassez de recursos e profissionais capacitados, perpetuam um quadro de encarceramento crescente e poucas oportunidades de reinserção social.
Nesse cenário, a audiência de custódia representa um avanço na busca pela garantia da legalidade das prisões e na proteção dos direitos fundamentais dos detidos. No entanto, sua efetividade ainda é limitada por entraves como a falta de infraestrutura, a capacitação insuficiente dos profissionais envolvidos e a resistência de setores do sistema de justiça criminal. Apesar desses desafios, os dados demonstram que as audiências de custódia desempenham um papel crucial na redução de prisões arbitrárias, permitindo uma avaliação mais criteriosa da necessidade da prisão e promovendo a liberdade provisória quando aplicável.
A implementação das audiências de custódia, aliada à ampliação de alternativas penais, representa um passo em direção a um sistema de justiça criminal mais equilibrado, que respeite os direitos individuais sem comprometer a segurança pública. Para que esse mecanismo alcance todo o seu potencial, é fundamental uma reavaliação das práticas judiciais e a adoção mais ampla de medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, a capacitação contínua dos operadores do direito e a melhoria das condições das unidades prisionais são medidas essenciais para tornar o sistema penal brasileiro mais eficiente e humanizado.
Portanto, distanciar-se da cultura do encarceramento em massa e adotar práticas mais justas e proporcionais é um desafio urgente para o sistema penal brasileiro. A efetiva implementação de alternativas penais, a limitação do uso indiscriminado da prisão provisória e a reestruturação das unidades prisionais são passos fundamentais para a construção de um sistema de justiça mais equilibrado e eficaz. A reformulação do sistema penal brasileiro exige não apenas mudanças jurídicas, mas também a implementação de políticas públicas voltadas à prevenção do crime e à reinserção social. Programas de assistência jurídica para presos provisórios, políticas de fomento à educação e ao trabalho dentro do sistema prisional e uma abordagem mais humanizada na execução penal são medidas fundamentais para mitigar o impacto do encarceramento. Sem um compromisso governamental contínuo e investimentos estruturais, a tendência ao encarceramento excessivo permanecerá como uma falha crônica do sistema de justiça criminal brasileiro. Essa mudança requer não apenas reformas estruturais, mas também uma transformação cultural e institucional, pautada pelo respeito aos direitos fundamentais e pelo compromisso com um modelo penal mais racional e democrático.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AITH, Marcelo. Avanços e desafios da audiência de custódia. Consultor Jurídico, 2023. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-mar-23/marcelo-aith-avancos-desafios-audiencia-custodia/. Acesso em: 21 fev. 2025.
ARMSTRONG, S. Em risco de direitos: reabilitação, gestão de sentenças e a violência estrutural da prisão. Critical Criminology, v. 28, p. 85-105, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10612-020-09503-7. Acesso em: 21 fev. 2025.
AZEVEDO, R. G.; SINHORETTO, J.; SILVESTRE, G. Encarceramento e desencarceramento no Brasil: a audiência de custódia como espaço de disputa. Sociologias, [S. l.], v. 24, n. 59, p. 264–294, 2022. DOI: 10.1590/15174522-108835. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/sociologias/article/view/103835. Acesso em: 27 fev. 2025.
BRASIL. Código Penal de 1940. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 21 fev. 2025.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. 3º Fórum Nacional de Alternativas Penais (FONAPE) [recurso eletrônico]: Encarceramento em Massa e Alternativas à Prisão: 30 anos das Regras de Tóquio das Nações Unidas / Conselho Nacional de Justiça, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2023.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Relatório 6 anos de audiência de custódia. 2021. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatorio-6-anos-audiencia-custodia.pdf. Acesso em: 21 fev. 2025.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2234.Acesso em: 21 fev. 2025.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 fev. 2025.
BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal.1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 21 fev. 2025.
BRASIL. INFOPEN. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. 2020. Disponível em:https://dados.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias1. Acesso em: 21 fev. 2025.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 186.490. Relator: Min. Edson Fachin. Brasília, DF, 2021. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur434618/false. Acesso em: 26 fev. 2025.
CALAZANS, Gabrielli Marchese. Audiências de custódia: a atuação do Ministério Público na garantia dos direitos humanos e na redução da violência policial. Revista do CNMP, n 11, 2023. Disponível em: https://ojs.cnmp.mp.br/index.php/revistacnmp/article/view/322/244. Acesso em: 21 fev. 2025.
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23 ed. São Paulo, Saraiva, 2016.
CARDOSO, Nayara Gonçalves. Audiência de custódia em todas as modalidades prisionais: A construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal para a reclamação (RCL) 29303. In: Repositório UFU, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/.Acesso em: 12 de out. 2023.
CORDEIRO, N.; COUTINHO, N. A audiência de custódia e seu papel como instrumento constitucional de concretização de direitos. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, v. 10, p. 76-88, 2018. DOI: 10.4013/RECHTD.2018.101.06. Disponível em: https://doi.org/10.4013/RECHTD.2018.101.06. Acesso em: 21 fev. 2025.
COREZZI PINHEIRO, Raissa Ferber. A prisão preventiva e a duração razoável do processo. Revista Eletrônica da Estácio Recife, [S. l.], v. 8, n. 3, 2023. Disponível em: https://reer.emnuvens.com.br/reer/article/view/717. Acesso em: 21 fev. 2025.
DA SILVEIRA, F. Audiência de custódia em decorrência de cumprimento de mandato de prisão cautelar: perspectivas a partir de um estudo empírico realizado na comarca de Pelotas/RS. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.22197/rbdpp.v10i2.974. Acesso em: 21 fev. 2025.
ETIENE, Letícia das Dores; RABELO, Claudenir da Silva. Aplicação e efeitos da audiência de custódia no Brasil. Revista Nativa Americana de Ciências, Tecnologia & Inovação, v.6, n.1, 2024. Disponível em: https://jiparana.emnuvens.com.br/riacti/article/view/1216/791. Acesso em: 21 fev. 2025.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução: Raquel Ramalhete. 42. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2014. Título original: Surveiller et punir.
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.
LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal.17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
MACHADO, Nicaela Olímpia; GUIMARÃES, Issac Sabbá. A Realidade do Sistema Prisional Brasileiro e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Revista Eletrônica de Iniciação Científica. v. 5, n.1. Disponível em: www.univali.br/ricc. Acesso em: 21 fev. 2025.
MARQUES, L.; LOURENÇO, L. Defendendo a paz social: entre a naturalização e o racismo em decisões de decretação de prisão preventiva. Tempo Social, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2024.223308. Acesso em: 21 fev. 2025.
NIYAZOV, M. Problemas de garantia da validade da aplicação de uma medida preventiva na forma de detenção. Criminologia e Justiça Criminal, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.51788/tsul.ccj.1.1./cfjd2045. Acesso em: 21 fev. 2025.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
PEREIRA, Cleverton Ramos. A audiência de custódia no Brasil como mecanismo de efetividade dos Direitos Humanos no Processo Penal. Monografia (Especialização em Direito Penal e Processo Penal) – Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, 2022. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/29067. Acesso em: 21 fev. 2025.
SENA, C. N. et al. Audiência de custódia e riscos à segurança: análise crítica do direito punitivo. RCMOS – Revista Científica Multidisciplinar O Saber, v. 1, n. 2, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.51473/rcmos.v1i2.2024.721. Acesso em: 21 fev. 2025.
SILVEIRA, Luiz. Em Oito Anos, Audiências De Custódia Reduziram Percentual De Prisões Provisórias. Revista eletrônica Consultor Jurídico, 2023. Disponível em:https://www.conjur.com.br/2023. Acesso em: 21 fev. 2025.
SOUZA, A.; TEIXEIRA, S.; NANTES, R. Eficácia da audiência de custódia: uma análise do caso brasileiro. International Journal for Innovation Education and Research, v. 9, p. 38-54, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.31686/IJIER.VOL9.ISS5.3068. Acesso em: 21 fev. 2025.
TAVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 11º ed. Salvador: EditoraJusPOD. 2016.
TOMAZ JÚNIOR, Arlen José Oliveira. Audiência de custódia e sua importância para o direito penal brasileiro. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 9, n. 11, p. 2675–2688, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i11.12561. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12561. Acesso em: 21 fev. 2025.
VILANOVA, Rafael Guimarães; MOTA, Karine Alves Gonçalves. Audiências de custódia: um estudo sobre seus reflexos na população carcerária do estado do Tocantins. Âmbito Jurídico, 2019. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/audiencias-de-custodia-um-estudo-sobre-seus-reflexos-na-populacao-carceraria-do-estado-do-tocantins/. Acesso em: 21 fev. 2025.
WABAD, Imran. Desafios que afligem as prisões – uma observação em primeira mão. Revista Internacional para Pesquisa Multidisciplinar, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i05.28575. Acesso em: 21 fev. 2025.
Referencias
Share this :
Área do Conhecimento